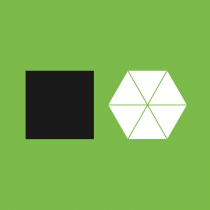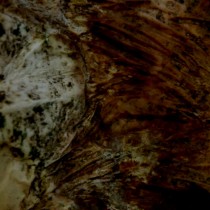A imagem e o escuro
Chris Marker, memória e psicanálise
Tania Rivera
Deve-se destruir a Sorbonne e colocar Chris Marker em seu lugar.
Henri Michaux[1]
“Das duas horas que passamos em um cinema, uma delas passamos na escuridão”, nota o cultuado cineasta francês Chris Marker[2]. Ele sublinha, assim, o fato de que as imagens em movimento são escondidas pelo intervalo entre um e outro fotograma, ainda que isso permaneça imperceptível ao olho iludido, pronto para ver continuidade onde há quebra, ruptura. “É esta porção noturna”, prossegue Marker, “que fica conosco, que fixa nossa memória de um filme”[3]. O que não se vê é essencial, é entre imagens que podemos nos esgueirar, tímidos, e fazer de algum filme a nossa memória.
Isto põe radicalmente em questão a noção corrente de que nossa memória seria composta de imagens evocáveis a nosso bel-prazer, à maneira, digamos, de projeções dos filmes mais ou menos curtos de nosso arquivo pessoal de vida. Seria o cinema o meio técnico que conseguiu a façanha de materializar o funcionamento de nossas lembranças, ou teria ele forjado em nós, estranhamente, tal concepção cinematográfica da evocação de nosso passado?
Freud e o cinema
Freud jamais escreveu sobre cinema. Burguês de gosto austero, ele preferia os clássicos da literatura e das artes plásticas, e provavelmente partilhava da desconfiança — comum nas primeiras décadas do século — de seus contemporâneos para com a sétima arte. Em 1909, em Nova Iorque, o psicanalista foi pela primeira vez ao cinema e saiu apenas “moderadamente entusiasmado”. Em 1925, ele recebe de Samuel Goldwyn, um grande produtor de Hollywood, o convite, envolvendo um vultoso cachê, para assessorar a realização de um filme sobre o amor. Freud nem sequer recebe Goldwyn, alegando por telegrama estar “indisposto com o cinema desde 1909”[4]. Pouco meses depois, porém, pressionado por alguns de seus discípulos, ele acabará por dar seu aval para a realização de um anunciado “primeiro filme de psicanálise” da história, Segredos de uma alma (1926), dirigido por ninguém menos do que G. W. Pabst[5]. Em meio ao chamado expressionismo alemão, a psicanálise serve simplesmente como tema para mostrar o homem de forma misteriosa e cheia de chiaroscuri.
Os alunos de Freud tampouco se interessaram teoricamente pelo cinema, à exceção de Lou Andreas-Salomé, a musa de Nietzsche e Rainer Maria Rilke, que nota em 1913 que “a técnica cinematográfica é a única que permite uma rapidez de sucessão das imagens que corresponde mais ou menos às nossas faculdades de representação” e que “o futuro do filme poderá contribuir muito para a nossa constituição psíquica”[6]. Esta genial previsão de Salomé não será publicada em seu tempo. Hoje ela nos lança a curiosa questão: terá o cinema contribuído para nossa “constituição psíquica”?
A psicanálise surge ao mesmo tempo que o cinema[7]. Em 1895, quando os irmãos Lumière fazem as primeiras projeções com cobrança de ingresso, Freud acabara de publicar seu primeiro livro, Estudos sobre a histeria, em co-autoria com Breuer. Poucos anos depois, em 1899, ele escreve “Lembranças encobridoras”, texto surpreendente pela ousadia de sua proposta: nossas recordações mais antigas e vívidas, as primeiras lembranças de nossas vidas, não foram efetivamente vividas, mas correspondem a fantasias. Freud conta como sendo de um analisando uma cena que na verdade é dele próprio. Criança, ele estaria brincando no campo com um menino da mesma idade que ele e uma menina um pouco mais nova. A menina faz um buquê de flores amarelas e de repente, como de comum acordo, os dois meninos caem sobre ela retirando-lhe as flores. Ela sai chorando e é consolada por uma camponesa que lhe dá um pedaço de pão. Os dois meninos aproximam-se e ganham também pedaços de pão.
Por mais vívidas que pareçam, nossas memórias podem ser ficções. Freud identifica nesta cena, disfarçados, seus pensamentos e desejos. O fato de de-florar a menina remete a anseios sexuais; o pão o leva a pensar em seu ganha-pão, suas preocupações financeiras, oriundas de sua situação familiar. Entre flores e pães, é sua posição no mundo que se dá a ver, mas de modo um tanto mascarado e indireto, deslocado. A lembrança, apesar de fictícia — ou melhor, justo por isso —, é uma espécie de fotografia, ou de curta-metragem da infância: ela figura os conflitos e desejos fundamentais do sujeito.
Nossas lembranças fazem de nós atores de um filme, de uma ficção fundamental. O eu, como dirá Lacan, se estrutura numa linha de ficção. Talvez fôssemos também os diretores deste filme. Nos surpreendemos, porém, ao reconhecer em nossas mais íntimas memórias imagens “estrangeiras”: fotos ou, entre os mais jovens, vídeos ou filmes caseiros. Como nota Freud, em nossas lembranças de infância vemos freqüentemente a nós próprios, somos objetos de nosso olhar, e não seu ponto de partida. Nossas imagens quando crianças, vistas/dirigidas por outros, em geral adultos, sobretudo os pais ou cuidadores, servem de suporte a nosso próprio ponto de vista. De objetos de um olhar outro, forjamos a ilusão de um olhar próprio. Além disso, na lembrança algo é por vezes excessivo, algo se destaca do script que gostaríamos talvez de forjar. Nas palavras de Freud, há nela “demasiada nitidez”[8]. Em sua cena, o amarelo das flores é exagerado, deslocado, o gosto do pão é bom em demasia. Algo estranha e pode vir desestabilizar nossa posição na cena, lançando-nos no campo vertiginoso do olhar.
La Jetée
O filme La Jetée, de Chris Marker, realizado em 1962, é um 35mm em preto-e-branco feito quase inteiramente com fotografias, entre as quais o intervalo é visível, com tela negra, em geral, ou uma lenta fusão entre as imagens. Mesmo assim, ou justo ao desconstruir assim a ilusão retiniana na qual se baseia o cinema, ele constrói movimento em uma narrativa bastante sofisticada no gênero ficção científica. Ao lado deste complexo enredo ficcional, o filme constitui uma vigorosa reflexão sobre o próprio cinema e, mais amplamente, sobre o olhar.
Ele gira em torno de uma lembrança de infância que marca o protagonista. Domingo, no molhe (a jetée do título) do aeroporto de Orly, ele vai com seus pais admirar os aviões. O resto de sua vida ele reveria este cenário, o sol fixo e, sobretudo, um rosto de mulher na ponta do terraço, cabelos esvoaçantes. Subitamente algo perturba a cena: um barulho, um corpo que oscila, um gesto da mulher, o clamor das pessoas em volta. “Mais tarde”, diz a voz em off sobre a tela negra, “compreendeu que havia visto a morte de um homem”.
O que se marca, na memória, vem no lugar de algo terrível, que mal se vê. A imagem da mulher faz jogo, em uma sofisticada montagem, com um assassinato que não vemos propriamente, apenas entrevemos, rapidamente, no olhar da mulher em close que traz as mãos ao rosto, e no corpo de homem de que só vemos uma parte, de costas, perdendo o equilíbrio. “Este rosto, que seria a única imagem do tempo de paz a atravessar o tempo de guerra, ele por muito tempo se perguntou se o teria realmente visto, ou se teria criado este momento de suavidade para sustentar o momento de loucura que estava por vir”, diz o narrador. Uma imagem (maravilhosa) viria no lugar de uma vivência (louca, assustadora). A imagem/memória se duplica, problematiza, densifica.
“Nada distingue as lembranças dos outros momentos: só mais tarde elas se fazem reconhecer, por suas cicatrizes”, temos ainda, sempre em off. As lembranças ferem e implicam numa temporalidade: só depois, mais tarde, o protagonista pode compreender o que mal viu: a morte de um homem. Mas a lembrança tem uma outra face, que esconde a ferida e se apresenta como sedutora, fascinante como a mulher no molhe, sem deixar contudo de sustentar a loucura, o terror da morte.
Também para Freud a lembrança é encobridora, ela vem no lugar de outra coisa. Em vez de recordar o nascimento de sua irmã, certamente penoso por ameaçar sua posição privilegiada junto a sua mãe, Freud se lembrava de um evento sem importância, ocorrido na viagem de trem que a família fez para o parto. A memória visa fazer esquecer, ela põe sobre o vivido uma “tela” — o termo alemão Deckerinnerungen, “lembranças encobridoras”, na tradução para o inglês ganhou a curiosa expressão screen-memory, literalmente, “lembranças-tela”[9]. A memória é “imemória”, como parece afirmar Marker ao dar o título Immemory a seu CD-ROM de 1997. Em vez de se pautar pela importância dos acontecimentos, registrando-os para sua posterior “projeção”, a memória se pauta pela tentativa de salvar um lugar para o sujeito. Se o inconsciente desaloja o eu da posição de “senhor de sua própria casa”, como diz Freud, a lembrança encobridora tenta dar-lhe um lar no centro do qual ele possa reinar tranqüilamente.
Trata-se, para falar como Marker, de uma “memória fictícia” que esconde uma “memória do imemorável”[10]. Se a ficção dá ao sujeito uma “casa”, inserindo-o em uma cena, ela é, porém, uma cicatriz, como dizia a voz de La Jetée, ela marca uma ferida tentando encobri-la. Foi um pequeno acidente, aquele vivido por Freud no trem, que não deixou de resultar numa ferida — tomando o lugar daquela outra que não se vê na memória, a ferida que era a perda de seu lugar privilegiado. A cicatriz pode ficar quase imperceptível, mas em algum momento ela reabre, estranhando a lembrança. Algo, na imagem, pode subitamente oscilar à maneira do Unheimliche de Freud, que passa de familiar a estranho, pondo radicalmente em questão a posição do eu. Em La Jetée a radical fragmentação do ponto de vista, raramente contíguo de uma a outra foto, convida de saída a uma deslocalização, um certo descentramento. Marker desmonta a lógica unificadora da edição que nos permite, em geral, construir diante da tela um espaço imaginário bem delimitado, onde um ponto de vista, o da câmera, nos é oferecido como um seguro ponto de amarração. A última imagem da cena no molhe que abre o filme, esta que comentamos até agora, é paradigmática desta fragmentação e dos movimentos vertiginosos a que ela nos incita. Um avião na pista está desfocado, como se, talvez, visto pelo homem que cai, morrendo. Do convite a contemplarmos o filme como o menino que vai pacificamente e em segurança ver os aviões, de repente somos levados a vacilar, incertos quanto à imagem — e a nós mesmos.
Um olhar outro
Vivo na fotografia, diz Roland Barthes, “uma microexperiência da morte”[11]. O retrato marca o momento em que o sujeito torna-se objeto, ao se fixar como imagem no mundo das imagens. Já o cinema, diz o filósofo em seu célebre A câmara clara, de 1980, é o domínio da ilusão. Ele pode tratar da loucura, retratá-la, mas nunca seria, por natureza, louco. Ele domesticaria o que há de louco, transgressor e terrível na fotografia. Marker já tinha, porém — e outros antes dele, outros depois — feito o cinema sair de seus trilhos, delirar e se desconstruir, criticando sua ilusão constitutiva. E trazido para a tela a dimensão do que Barthes chama punctum, que na fotografia nos punge, ameaça furar nossos olhos. Ponto em que a imagem se revira, deixando de ser o que chamamos de imagem-muro para tornar-se furo na imagem, imagem perfurante. Imagem-furo que nos afeta e convoca a deslocamentos, retirando de nós a tranqüilidade de uma “casa” própria, de um ponto de vista central que nos sustentaria ilusoriamente como centro do campo do olhar.
Algum tempo depois daquele domingo no molhe de Orly, começa a terceira guerra mundial. As fotos de Paris destruída são acompanhadas de um trecho trágico e grandioso do compositor inglês Trevor Duncan. O menino encontra-se em um campo de concentração nos subterrâneos da cidade, pois a radioatividade tornou a superfície da Terra inabitável. No campo os alemães fazem estranhas experiências com prisioneiros, que morrem ou retornam loucos. Os guardas espiam “até os sonhos” e nosso protagonista é escolhido entre mil por causa da força de sua lembrança de infância. Explicam-lhe que a carência de fontes de energia condena a humanidade e que apenas uma viagem no tempo poderá salvá-la. Ele será levado, graças a misteriosas injeções, a voltar ao passado, de início por fragmentos: ele vê “um quarto de verdade”, uma criança, uma moça que poderia ser aquela que ele busca. Aos poucos, ele ganha autonomia e consegue permanecer por momentos mais longos onde ele fala e passeia com a mulher, que o chama seu “espectro”. Ele não sabe bem se “dirige-se a ela, se é dirigido, se inventa ou sonha”, até que, num instante de ilusão máxima ou verdade extrema, ela pisca os olhos, acordando sob o gorjeio crescente de pássaros, e nos olha. Esta, que é a única breve seqüência cinematográfica de todo o filme, apresenta-se efêmera e potente como um encontro amoroso e reacende toda a louca magia do cinema, da imagem em movimento à qual estamos acostumados ao ponto de torná-la quase inócua, banal. Neste instante de fascínio, a imagem torna-se mesmo verdadeira, mas não no sentido da crença no chamado cinema-verdade, que surgia e maravilhava Marker, justo no momento da realização de La Jetée. O cinema é mais “verdadeiro” — ou melhor, como prefere o cineasta, “direto”[12], quando ele se assume ao máximo como ficção, já que a própria memória, nossa própria relação com a percepção e a imagem é ficcional.
Este momento de vigorosa retomada da potência do cinema nos punge, amorosamente, mas também nos estranha. É aí transgredido o tradicional impedimento de que o ator mire diretamente a câmera, de modo que esta mulher nos olha diretamente. Nós somos, subitamente, olhados pela câmera. De contempladores capazes de viajar com autonomia nas imagens, no passado, de repente somos tomados por este passado, por algo que, de externo e ficcional, ilusório, subitamente torna-se íntimo. A imagem nos olha — pungente.
Quando Marker realiza este filme, Jacques Lacan já havia escrito, comentando a filosofia de Maurice Merleau-Ponty, que “o olho é feito para não ver”[13]. Uma zona de impossibilidade, de invisibilidade já sombreava, portanto, para o psicanalista, o campo da visão. Mas é apenas em 1964, apoiando-se na recém-publicada obra póstuma do filósofo, O visível e o invisível, que Lacan afirmará a preexistência do campo do olhar, do “espetáculo do mundo”[14], sobre a constituição do olhador. Este não é mais o ponto em torno do qual se ordena o visível, mas está submetido a um olhar outro de que ele é objeto. A existência das linhas de Nazca, enormes desenhos feitos por este povo pré-colombiano nos desertos do Peru, que nunca eram vistos em sua totalidade e hoje podem ser contemplados de avião, já trazia de forma pungente o apelo a um supremo olhar, externo. Para este olhar outro se oferecem as produções imagéticas do sujeito, para além do que este e seus semelhantes possam contemplar.
No campo do olhar, portanto, o sujeito se inscreve como objeto olhado. Um outro olhar o estranha e ameaça como uma fotografia tirada subitamente, sem seu consentimento. “É pelo olhar que eu entro na luz e é do olhar que recebo seu efeito”, afirma Lacan[15]. A própria constituição do sujeito depende desta inscrição no olhar que vai além de seu reconhecimento no espelho, pelo qual ele se assegurava de assumir uma posição central e estável, a de dono da visão de si mesmo. Sua posição de fotógrafo capaz de registrar o espetáculo do mundo pode dar lugar por vezes a uma perturbadora inversão: ele será então objeto do olhar, fotografado, ou seja, grafado pela luz. “O olhar é o instrumento pelo qual a luz se encarna, e pelo qual […] sou foto-grafado”, diz Lacan[16].
Nesta vertiginosa virada, o sujeito perde seu lugar central, é deslocado e convidado a refazer, efemeramente, as condições de sua constituição. Punctum: algo o toca de forma pungente, vigorosa, um tanto violenta, mas também amorosa. De tela que encobre este ponto sensível, a imagem pode se furar e convidar o sujeito a aparecer como seu efeito. A imagem me olha — ameaçando quase matar-me.
Uma vez bem azeitado o procedimento de viagem no tempo, após um último e belo encontro com a mulher em um museu de história natural cheio de animais empalhados, “bestas eternas”, o protagonista de La Jetée é enviado ao futuro em busca de fontes de energia. Ele recebe dos homens deste tempo uma central capaz de recolocar de pé toda indústria mundial e volta à prisão com a certeza de que, agora que cumpriu sua missão, será eliminado. Mas os homens do futuro vêm vê-lo e o convidam a viver com eles. Ele pede outra coisa: quer voltar àquele tempo de sua infância, o tempo de antes da guerra, no qual talvez a mulher o espere.
O homem aparece então no molhe de Orly naquele domingo ensolarado da primeira cena do filme, e pensa com alguma vertigem que o menino que ele foi deveria também se encontrar ali, em algum lugar. Mas ele procura sobretudo uma mulher na ponta do molhe, na direção da qual se põe a correr. Quando reconhece um dos alemães do campo subterrâneo, porém, compreende “que não se foge do tempo e que este instante que lhe foi dado ver criança, e que não cessou de obcecá-lo, era o instante de sua própria morte”.
Brechas
Diversas vezes busquei nesta incrível última cena do filme reencontrar o menino por entre as pessoas que aparecem em segundo plano, em algumas das fotos que aí parecem se encadear de forma um tanto acelerada. Tomada na armadilha do filme, chegava a acreditar que fosse mesmo possível encontrar, na imagem, o entrelaçamento entre o que se vê e o que é visto. Não tinha ainda percebido que o que se enlaçava, aí, num sofisticado arranjo entre o texto em off e a montagem imagética, era eu mesma. O filme forjava em mim uma memória “própria”, um passado meu, idílico, sem “guerra”, uma cena preciosa que eu ignorava qual seria exatamente, e no entanto deveria buscar entre-imagens (no sentido em que falamos, a propósito de um texto, entrelinhas[17]). É impossível, porém, reencontrá-la como tal. Em outras palavras, há entre o menino e o homem um hiato no qual pôde se desenrolar o filme e eu pude me “enrolar”, acreditando (sem saber) na promessa de retomar, através da imagem, algo fundamental em minha própria história. Seria um instante de reencontro talvez maravilhoso como o olhar da mulher do filme, seu acordar. Mas teria como seu avesso, insidiosamente, uma marca fatal, uma ferida que se reabriria ameaçando-me como o assassinato que fecha La Jetée: mortificando-me.
Assim como o menino passa no filme de contemplador (de aviões, de um crime) a contemplado (vítima), eu de alguma maneira subliminar fui retirada de minha confortável posição de espectadora e obrigada a (me) procurar aqui e ali, nas brechas da imagem, em seus escuros. Descentrada como o menino, que não detinha uma posição central em relação ao que via, estando de saída fragmentado pelos múltiplos pontos de vista entre os quais se perfilava um acontecimento apenas entrevisto. Só mais tarde ele pôde compreender que havia visto a morte de um homem — quando a morte revelou-se, enfim, a sua própria. De modo correlativo, apenas quando sou chamada a comparecer na imagem, quando sou olhada por ela, posso “compreender” aquilo que entrevi nas brechas, nos escuros da imagem. Como diz o filme, não se escapa ao tempo que, inelutável, nos condena à morte a cada instante — e também, ao mesmo tempo, forja em nós algum passado mais ou menos obscuro, e que nem é propriamente nosso.
“Enfim, há o cinema. Ele é a memória incerta da infância e a memória do século”, escreve Raymond Bellour em sua “apologia” de Chris Marker[18]. Passando para a memória como história coletiva de nosso tempo, toda a obra de Marker se caracteriza por seus elementos documentais, ou melhor, por uma mescla própria entre documentário e ficção que fez Bazin defini-la como “filme de ensaio”. Aparentemente uma exceção a esta regra, por sua proposta inteiramente ficcional, La Jetée já nos apresenta porém uma fina crítica à distinção entre documentário e ficção, ao mostrar e nos convidar a viver a memória como ficção do outro a partir das pistas perdidas de nossos “fatos”, de nossos “documentos”. Armadilha de pegar memórias, do sujeito ou do “século”, qual a diferença quando sabemos que uma lembrança nunca nos pertence inteiramente?
E o que um filme registra, deixa em nós, senão esta estranha evocação de um passado em que nos perdemos? Nessa perspectiva, todo filme implica em uma volta ao passado, por entre suas imagens, evocando a escuridão onde não nos encontramos, mas somos convidados a nos desencontrar. “Uma memória é um certo conjunto, um certo arranjo de signos, de pistas, de monumentos”, diz Jacques Rancière em uma caracterização que poderia servir para o cinema[19].
O cinema: paixão da memória, paixão do real onde não nos reencontramos, e no entanto buscamos algo fundamental. Muro capaz de nos esconder, tela pronta para nos apresentar belas e coletivas lembranças encobridoras. Mas também furo na imagem, súbita escuridão capaz de fazer aparecer e vacilar nosso lugar no mundo. “Eis aqui um cinema”, escreve Patrice Hovald sobre la Jetée, “que não é mais fugitivo[20]”.
[1] Relatado por Anatole Dauman, em Souvenir-écran (Paris: Centre Georges Pompidou, 1989), p. 149. Eu traduzo esta e as demais citações em língua estrangeira aqui presentes.
[2] Entrevista “Marker direct” a Samuel Douhaire e Annick Rivoire, em Film comment (mai/jun 2003), disponível em http://www.filmlinc.com/fcm/5-6-2003/markerint.htm e consultada em 14/11/2006.
[3] Ibidem.
[4] Citado por Patrick Lacoste, em Psicanálise na tela (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992), p. 37.
[5] A respeito dos detalhes de realização deste filme, ver Patrick Lacoste (op. cit.).
[6] Lou Andreas-Salomé, Correspondance avec S. Freud suivie du journal d’une année (Paris: Gallimard, 1970), p. 335-336.
[7] Para uma análise mais detalhada desta simultaneidade, bem como para um maior desenvolvimento das questões tratadas neste ensaio, ver Tania Rivera, em Cinema, imagem e psicanálise (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008).
[8] Sigmund Freud, “Lembranças encobridoras”, em Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (vol. III, Rio de Janeiro: Imago, 1986), p. 273.
[9] A tradução francesa, souvenir-écran, seguiu a mesma tendência.
[10] Citado por Bamchade Pourvali, em Chris Marker (Paris: Scérén-CNDP/Cahiers du Cinéma, 2003).
[11] Roland Barthes, em A câmara clara (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984), p. 27.
[12] Entrevista a Samuel Douhaire e Annick Rivoire (op. cit.).
[13] Jacques Lacan, “Maurice Merleau-Ponty”, em Outros escritos (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003), p. 192.
[14] Jacques Lacan, em O seminário: livro 11. Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998), p. 71.
[15] Ibidem, p. 104.
[16] Ibidem.
[17] E aludindo ao belo título de dois livros de Raymond Bellour: L’Entre-images. Photo, cinéma, vídeo, (Paris: La Différence, 1990) e L’Entre-images 2. Mots, images (Paris: P.O.L., 1999).
[18] Raymond Bellour, L’Entre-images 2 (op. cit.), p. 357.
[19] Jacques Rancière, “La fiction documentaire: Marker et la fiction de mémoire”, em La Fable cinématographique (Paris: Seuil, 2001), p. 201.
[20] Citado por Bamchade Pourvali (op. cit.), p. 78.
***
TANIA RIVERA é psicanalista, doutora em Psicologia pela Université Catholique de Louvain, com Pós-Doutorado em Artes Visuais pela EBA – UFRJ (2006). Foi professora da Universidade de Brasília de 1998 a 2010 e atualmente é professora da Universidade Federal Fluminense. É pesquisadora bolsista do CNPq e autora de diversos artigos e livros, como “Arte e psicanálise” ( Zahar) e o recém-lançado “O Avesso do Imaginário” (Cosac Naify).
Todos os direitos reservados.