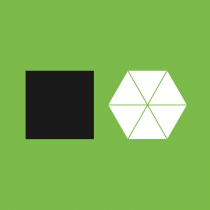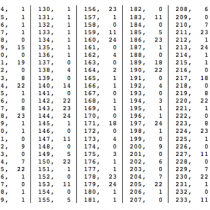Corpo, Sonho e Memória
Conversa com John Araujo, Alejandro Ahmed e Tania Rivera
A seguinte conversa foi realizada no dia 29 de março de 2014, na ocasião dos Encontros Carbônicos, evento realizado pela Revista Carbono, com apoio da galeria Largo das Artes e patrocínio da Funarte, e que englobava uma exposição coletiva e uma série de conversas públicas entre artistas e cientistas.
“Corpo, Sonho e Memória” foi o ponto de partida para as falas e discussões, com a participação do neurocientista John Araújo, a psicanalista Tania Rivera e o coreógrafo e bailarina Alejandro Ahmed da Companhia de Dança Cena 11, e com mediação de Marina Fraga e Pedro Urano.
JOHN ARAUJO
Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui discutindo ciência num público que a maioria tem uma interação muito maior com a arte. Eu espero aprender bastante com o conjunto de pessoas que trabalham com as artes aqui e espero contribuir um pouco com esse debate, que eu acho que é o mais importante.
Primeiro vou falar um pouco da história do Instituto Cérebro em Natal. Eu sou médico de formação, e eu fui fazer medicina porque eu queria fazer pesquisa, queria estudar duas coisas: o comportamento humano, a mente humana, ou seja, o cérebro humano; ou estudar o universo, a origem do universo. Eu queria ser um neurofisiologista ou um astrofísico. E acabei decidindo seguir o caminho da neurofisiologia. Não existe um curso de graduação em neurofisiologia, como não existe um curso de graduação em astrofísica. Você tem que fazer um curso tradicional, no caso biologia ou medicina. Na época, no Piauí, o curso de medicina tinha mais qualidade, então foi o que escolhi. Depois fui para São Paulo para fazer mestrado e doutorado. No Brasil, fazer ciência significa estar numa universidade, especialmente estadual ou federal. Fui pra Natal, pra Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou um privilegiado, porque eu fui para uma cidade agradável, onde tem praias bonitas, onde todo mundo quer se divertir, e eu fui morar nesse lugar, nesse paraíso. E aí, mais ainda eu tive o privilégio de que três grandes brasileiros, Sidarta Ribeiro, Claudio Mello e Miguel Nicolelis, decidiram implantar em Natal um instituto de neurociência. Escolheram Natal por ser uma cidade agradável, que poderia você atrair pessoas de todo o mundo e além de não ser uma cidade muito grande, e portanto um projeto como esse teria muita repercussão. Além disso, Natal já tinha um grupo de pesquisadores em neurociência razoável. Esse projeto se desenvolveu, teve alguns rompimentos, e assim foi criado o Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que hoje é coordenado pelo professor Sidarta Ribeiro. Temos quase vinte e quatro professores, boa parte brasileiros que estavam fora do Brasil, na Alemanha, França, Estados Unidos, Suécia, Dinamarca ou Austrália, e fizeram o movimento inverso, voltaram pro Brasil e estão hoje em Natal, na UFRN. Além disso, nós temos professores estrangeiros contratados pela universidade. Isso permitiu com que abríssemos uma porta para a internacionalização da neurociência de Natal, que eu acho que foi muito positivo. Hoje, eu diria que o Instituto do Cérebro é um centro de referência em neurociência.
Me gratifica muito estar aqui nessa discussão, nessa interface entre ciência e arte. Eu gosto de dizer pros meus alunos que ciência e arte cabe em qualquer parte. Eu acho que tem duas coisas que a arte e a ciência têm em comum. A primeira delas é a liberdade, não dá pra fazer ciência sem liberdade, assim como não dá pra fazer arte sem liberdade. Esse elemento é fundamental. A outra coisa é que a ciência e a arte têm que ser criativas. Por isso que eu sou crítico ao modelo que nós temos hoje no Brasil, ao modelo de formação educacional, de cientistas e de pós-graduação, pois é um modelo que restringe, é um modelo etapista. Primeiro você tem dois anos de mestrado, depois três ou quatro anos de doutorado. E na verdade, se eu quero que alguém aprenda a fazer ciência, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar liberdade pra ele. Então, para mim, se você quer aprender a fazer ciência, você tem que ter pelo menos uns cinco ou seis anos da sua vida dedicados a aprender a ser criativo. Assim como precisa de um tempo grande pra aprender a ser um artista. Então, eu acho que, nesse aspecto, tanto na ciência quanto na arte, se a gente quer desenvolver realmente no Brasil, é preciso dar oportunidade para os nossos jovens terem tempo e liberdade para serem criativos, e não presos a modelos definidos por nós, chefes de laboratório ou por burocratas da CAPES, do CNPQ ou do Ministério da Educação.
O tema geral do meu trabalho é o que a gente chama de cronobiologia (crono = tempo; biologia = estudo dos seres vivos). Na verdade, eu estudo o tempo dentro dos seres vivos. A idéia é você olhar o fenômeno biológico de uma outra forma. Sempre se olhou o fenômeno biológico mais como uma questão espacial do que temporal. Isso se vê claramente na área médica. Se eu perguntar ‘qual é a pressão arterial ideal de cada um?’ ou ‘qual é a temperatura do corpo de cada um?’, vocês vão me responder com um número, um valor. Hoje eu posso dizer que está errado. Na verdade não faz sentido dizer ‘a minha temperatura normal é 36,5º C’, porque esse número não diz nada. Esse número é algo espacial. É a mesma coisa de se fazer a pergunta: ‘o que é normal? Estar acordado ou dormindo?’. A média entre acordado ou dormindo é a sonolência. Mas isso é o anormal. O normal, neste caso, é uma mudança, um ritmo, um processo oscilatório. Então, podemos entender esses fenômenos a partir de alguns conceitos. O primeiro é a dinâmica. Ao invés de olhar um fenômeno estático, eu tenho que observar o fenômeno dinâmico. Se olharmos os próprios seres humanos, veremos que existe uma diferença grande entre os fenômenos biológicos. Por isso temos as especialidades. A clínica médica trata do adulto, a pediatria trata da criança, a neonatologia trata do recém nascido, a geriatria trata do idoso. Porque uma criança não é um adulto em miniatura. E um recém nascido não é uma criança, porque funciona diferente. Ou seja, a biologia vai mudando ao longo da nossa vida, bem como ao longo do dia, ao longo do ano, e pode mudar ao longo de tempos mais curtos. A forma como eu funciono enquanto estou acordado é diferente de quando estou dormindo. Determinados fenômenos só ocorrem enquanto eu durmo. Ninguém vê um adulto roncando acordado. Por que? Porque a fisiologia é diferente, ou seja, o funcionamento do corpo humano é diferente em momentos diferentes. E é claro, em termos conceituais, uma das coisas que a gente quer estudar é o quanto esses fenômenos são estáveis ou instáveis. Ou seja, eles são plásticos. Como comentei, a gente vai mudando ao longo da nossa vida, mas por outro lado, não pode mudar indefinidamente. A gente tem que ter uma estabilidade. E isso eu posso mensurar, para entender o fenômeno, no sentido de estabelecer um padrão “normal” e um padrão “patológico”, pois em alguns momentos eu preciso intervir com o procedimento terapêutico.
Em Natal trabalhamos esse aspecto cronobiológico em vários níveis. Então, antes de fazer um experimento com animal ou com um ser humano, podemos fazer o experimento simulado no computador. Fazemos também experimentos em modelos animais, no caso, usamos roedores (ratos ou camundongos) ou primatas não-humanos (como a gente chama em Natal, o macaco sagui), com o qual podemos fazer simulações mais invasivas.
Posso, por exemplo, pegar um animal e simular um dia de 21 horas, ou um dia de 28 horas e ver como é que ele se comporta. Também estudamos o ser humano, propriamente dito. Nossa idéia nos experimentos com seres humano é buscar simular a realidade. Eu tento investigar o ser humano quando ele está vivendo. Basicamente, a gente estuda estudantes universitários, que a gente tem mais acesso, ou trabalhadores em algumas empresas. Assim podemos medir enquanto o ser humano está sendo manipulado, ou pelos horários da escola ou pelos horários de trabalho. A partir daí eu obtenho informações sobre o mecanismo funcional.
Quando trabalhamos com o tempo, estamos trabalhando com fenômenos rítmicos. E o principal fenômeno rítmico que todos nós conhecemos é o sono. O sono e a vigília. Podemos pedir para o sujeito fazer um diário de sono, e hoje temos alguns sistemas para medições, como um relógio de pulso com sensores de movimento. Com ele posso inferir indiretamente se o sujeito estava dormindo ou acordado durante um período mais longo de tempo, como um mês. Podemos também levar o sujeito para o laboratório, colocar eletrodos em sua cabeça e ver o que está acontecendo no cérebro dele durante a noite. E então teremos vários parâmetros. Uma das coisas que queremos saber é: o que é o fundamental? A quantidade de horas que o indivíduo dorme ou como o indivíduo dorme?
Então, eu aproveito e faço uma pergunta para a platéia: quem aqui não gosta de dormir? Todo mundo aqui está assumindo que gosta de dormir, certo? Ninguém se pronunciou. Eu adoro dormir. Eu sou aquela pessoa que gosta de seu objeto de estudo, que é o sono. Na minha casa o sono é uma coisa especial. Ninguém pode perturbar o sono. E eu faço isso também com meus alunos: se estou dando aula e alguém está dormindo, eu até diminuo o tom de voz. Claro, se passar um colega do lado e disser “John, sua aula estava tão chata que a turma estava dormindo?” eu digo ‘não, é aula prática!’ Eu tenho essa desculpa. Às vezes, eu gosto de dar esse tema, esse título para as minhas palestras: ‘Dormir pouco é bobagem’. Porque é comum a mídia dizer ‘o presidente da empresa tal dormia só quatro horas por dia’. Ai eu gosto de dar o contra-exemplo. A pessoa que é considerada o gênio do século passado ou do milênio passado, Einstein dormia em torno de dez a doze horas por dia. O importante não é a quantidade de horas que você dorme, o importante é você dormir bem e usar bem as horas que você está acordado. No geral a sociedade capitalista faz essa pressão, não é? Durma pouco e produza muito. Na verdade, você dorme pouco e fica sonolento, a sua capacidade produtiva cai bastante. Mas não é só dormir pouco, é dormir errado. A gente usa uma expressão que diz ‘higiene do sono’. Do mesmo jeito que eu digo que as pessoas precisam lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes e etc., também tem a higiene do sono. O ambiente de dormir deve servir pra duas coisas: dormir e fazer amor, nada mais. Nada de ler, comer, resolver problemas. Não adianta você levar problemas para a cama, que você não vai resolver durante a noite. Então é preciso aprender. No meu quarto de dormir, não tem nada, só a cama. Se eu quero assistir televisão, eu vou para um outro ambiente. Não vou associar a minha cama nem com filmes desagradáveis, nem agradáveis, principalmente com a programação da televisão aberta, que é muito desagradável.
Então, em Natal a gente tem trabalhado um pouco com esses aspectos. Pensando em como propor estratégias para as pessoas dormirem melhor. E, se você dorme melhor, você vai realmente ter melhor aprendizagem, etc. E porque dizemos o sono tem a ver com a memória? Duas coisas: a primeira é que existe um fenômeno que acontece durante o sono, que é interessantíssimo: os sonhos. O que que é o sonho? O que que significa? Não temos ainda uma resposta completa, mas já temos algumas evidências bastante interessantes. Eu sei que, durante o momento do sono em que o ser humano sonha, ocorre um comportamento neural específico padrão. E esse comportamento também ocorre no rato, no gato, no macaco. Não posso perguntar aos animais sobre seus sonhos, somente com os seres humanos. Então, talvez o rato não sonhe, mas ele tem uma atividade neural muito semelhante ou análoga, ao ser humano, durante o sono. Então, podemos tentar entender o que está acontecendo ali, e qual é sua importância. Nesse momento em que dizemos que estamos sonhando, observamos uma produção de proteínas no nosso cérebro. Isso significa que nossos neurônios estão interagindo mais com os outros, as sinapses, ou seja, as conexões entre um neurônio e outro estão mais fortes. E isso acontece também com o rato. E é claro que a nossa aprendizagem depende das nossas conexões neurais. Então, eu posso dizer com certeza que os sonhos, ou os momentos do sono em que ocorrem os sonhos, são importantes para o processo de aprendizagem e o processo de memória.
Além disso, para nós seres humanos, durante os sonhos ocorrem momentos em que nós resolvemos alguns problemas. Ou seja, será que nós podemos ser criativos durante os sonhos? Parece que sim. Pelo menos temos vários relatos. Um deles, que inclusive é bastante comentado na neurociência, foi a descoberta da liberação de substâncias químicas numa sinapse. Foi um pesquisador sueco no anos 1930, que escreveu isto nas memórias dele, que sonhou como resolver um problema sobre o qual estava pensando. Acordou e voltou a dormir. Quando acordou de manhã, lembrava que tinha sonhado, que tinha tido a solução, mas não lembrava qual era a solução. Foi seu maior desespero! Ele disse que ficou quinze dias tentando sonhar novamente. E foi durante um sonho, cerca de quinze dias depois, que ele sonhou novamente, acordou com aquela informação e foi direto para o laboratório. Claro, naquela época você vivia junto com o laboratório. Ele não dormiu para não esquecer e fez o experimento conforme imaginou durante o sonho, e conseguiu descobrir que nas conexões neurais você libera substâncias químicas, no caso era acetilcolina, e ganhou prêmio Nobel por essa descoberta. Do mesmo jeito, August Kekulé disse que viu durante um sonho uma serpente comendo seu próprio rabo, e com isso ele conseguiu propor o anel de benzeno como estrutura química. Ou Dmitri Mendeleev, o russo, que desenvolveu a tabela periódica, também teve a ideia durante um sonho. Então, parece que temos a possibilidade de ter um insight ou um percurso criativo durante os sonhos.
E a questão é: por que? Qual é a diferença do funcionamento do cérebro do indivíduo quando está acordado ou quando está sonhando? O mais interessante nesse tipo de estudo é que percebemos que o nosso cérebro é muito parecido acordado e sonhando. A pequena diferença, é que algumas áreas, como uma área que nós chamamos pré-frontal, que fica menos ativa durante o sonho. Todo o resto estaria muito ativo. É interessante observar que as áreas ativas durante o sonho são semelhante às áreas muito ativas durante a esquizofrenia. Eu gosto de dizer, todos nós somos esquizofrênicos. Enquanto estamos dormindo e entramos na fase de sonho, nós temos a atividade do córtex do nosso cérebro semelhante a um paciente que esteja num surto esquizofrênico. A diferença é que não nos comportamos da mesma forma, porque temos uma inibição do comportamento.
Durante o sonho, não temos uma intencionalidade, eu não direciono as minhas ações, elas vão surgindo como alucinações. Eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo vozes. Mas existe algo particular que é um fenômeno que chamamos de ‘sonho lúcido’. Provavelmente, vários de vocês tiveram um ou dois episódios como esse. Que é aquele sonho em que eu sei que estou dormindo, eu sei que é um sonho, e então posso fazer qualquer coisa, pois não tenho medo. Eu direciono. Então, consigo até voar, se quiser. Eu digo que o principal sonho lúcido que tive, já professor universitário, há uns dez anos atrás, foi que eu estava chegando em Natal de avião, e o avião estava caindo. E eu percebi: ‘isso é um sonho!’. ‘O avião pode cair e eu não vou sentir nada. Então eu vou aproveitar, esperar que o avião caia e descobrir se vai ter vida após a morte.’ E ai o avião caiu e eu descobri que não tinha nada após a morte. Isso é uma história de um sonho lúcido.
Temos estudado sobre isso em Natal, eu e o Sidarta Ribeiro. Fizemos um estudo epidemiológico sobre as pessoas tem sonho lúcido no Brasil, com um questionário na internet. Fizemos também estudo eletrofisiológico, mas, claro, o sonho lúcido não é fácil. Nós levamos em torno de cento e vinte pessoas para o laboratório, um monte de eletrodos, cada um passava duas noites e a gente tentava induzir o sonho lúcido. De cento e vinte, só oito tiveram sonho lúcido. Porque o sonho lúcido ocorre de vez em quando. Estamos tentando desenvolver métodos para induzi-lo. E porque tentar aprender o sonho lúcido? Porque se você está dormindo, você tem uma inibição sensorial generalizada. Então, esperamos que talvez isso permita se concentrar em determinadas tarefas. Por que que o sujeito descobriu que a sinapse libera uma substância química? Ou que o Kekulé descobriu o anel de benzeno? Porque durante o sono, ele não tem outras interferências. Estou falando com vocês agora, mas eu estou tendo estímulo de luz, tenho uma câmera na minha frente, está me inibindo, tem várias coisas que estão atrapalhando o meu raciocínio. Se eu estiver dormindo, e pensando exclusivamente numa função, eu posso usar um conjunto de bilhões de bilhões de conexões sinápticas exclusivamente para aquilo. E então posso ser mais criativo. E a nossa hipótese é: se eu conseguir induzir o sonho lúcido e direcionar o sonho lúcido, talvez eu consiga induzir um indivíduo a ser bastante criativo naquele momento. A nossa maior dificuldade atualmente é que já até conseguimos induzir mas por muito pouco tempo, a duração é muito curta, em torno de segundos. O que faz com que todas as vezes que eu estou induzindo o sonho lúcido, o indivíduo acorde facilmente. E aí é difícil. Para induzir o sonho lúcido, levamos o indivíduo para o laboratório, ele dorme e precisa me dizer que está sonhando. Para dizer isso, como ele não pode falar, uma coisa que o indivíduo é possível fazer durante o sono, é mover os olhos. Então, eu treino o indivíduo a mexer os olhos. Eu digo para ele: conte até dez, de um até dez, movendo os olhos, abrindo e fechando os olhos. Ai ele faz isso durante a vigília. Ai eu digo: se você entrar no sonho lúcido, você vai então fazer isso. Como eu estou registrando a atividade do cérebro dele, eu sei que ele está dormindo. E aí ele faz exatamente os movimentos dos olhos, na condição que ele está dormindo. Então eu sei que ele fez um sinal para mim dizendo ‘eu estou dormindo e estou tendo um sonho lúcido’.
Pedro Urano: Quer dizer, você não vê os olhos dele mexendo, mas você identifica padrões no seu eletro…
John Araujo: Eu vejo, porque ponho eletrodos e eu estou observando no meu computador na outra sala.
Pedro Urano: Você deu o comando para ele mexer os olhos…
John Araujo: Eu vejo que ele está dormindo e ele me dá o comando, ‘eu estou tendo o sonho lúcido’.
Pedro Urano: Entendi. Obrigada, John! Vamos ouvir agora Alejandro Ahmed, coreógrafo e diretor da companhia Cena 11.
ALEJANDRO AHMED
Bom, eu sou Alejandro, como ele falou. Queria perguntar primeiro se alguém já assistiu o Cena 11 aqui no Rio, quem está na plateia? Alguns já assistiram. É para saber um pouco onde a gente se situa. E eu fiquei super feliz também pelo convite. Coincidentemente teve um outro convite de transversalidade no projeto Híbrida, da USP, que tem a ver com protótipos de tecnologia de expansão auditiva e visual. Eu vou trabalhar num workshop junto a esses projetos. E falar aqui na Revista Carbono. Quando falaram do John e da Tania, eu me interessei também pela possibilidade dessa transversalidade expandir o que a gente está trabalhando agora no Cena 11.
O Cena 11 é uma companhia que fez 21 anos agora em fevereiro. E eu vou tentar puxar um pouco mais para o assunto que tem a ver com essa transversalidade no corpo e através do corpo e a nossa pesquisa, em função das provocações que eu estou ouvindo aqui e com o que estamos trabalhando. E também vou tentar mostrar algumas coisas, que eu acho que podem ter a ver com isso, mas são de pesquisas anteriores e de formas e definições que a gente estabeleceu nos últimos quinze anos mais ou menos, e é por onde a gente também é conhecido. Eu vou falar sobre essas definições e dos nossos interesses, e aí talvez vocês possam perguntar, inclusive os dois convidados, que me interessa muito. Eu já anotei algumas perguntas aqui, não só como curiosidade científica, mas como o início de uma especulação, já é algo que a gente vem fazendo. Chamamos de especulação também, porque eu não tenho graduação nenhuma, apesar de ter fugido de algumas universidades, jornalismo e letras. E o Cena 11 basicamente é um projeto de autodidatismo, que criou uma linguagem particular. E essa linguagem acabou chegando à um lugar com definições de corpo, de um campo específico, que é o campo de estudo do Cena 11. Então as definições que eu vou usar aqui, são termos que a gente de alguma forma cunhou em função das nossas descobertas e da nossa experiência prática num trânsito entre teoria e arte, que a gente vem fazendo desde 1993, mas de forma um pouco mais empírica a partir de 2002, com a participação da Fabiana Dutra Britto, que foi coordenadora do mestrado da UFBA em dança, e também minha parceira no que chamamos de interlocução teórica-prática em dança. Por muitos a dança é vista como algo contemplativo, mas nosso interesse é que a dança possa ser de quem faz e de quem vê. E isso pode ser através até dessa relação com neurônio-espelho, suscitando questões sobre empatia de corpo e empatia de questão.
A gente vem desenvolvendo um trabalho que em 2000 chegou a algumas definições de corpo, para o espetáculo que a gente nomeou de ‘Violência’. E violência como substantivo feminino, a gente transportou ele para o nome próprio Violência. Então, você senta na sala de espetáculo e você vai assistir Violência. O nome já propõe um jogo de expectativa e de definição do que que você vai ver. E para isso não podíamos ilustrar apenas, representar no sentido de criar uma mensagem para que o outro entendesse como apenas uma metáfora sobre o que estava acontecendo. E não era para falar sobre uma violência urbana ou qualquer coisa nesse sentido. Tinha influência do teatro da crueldade, de Antonin Artaud. E nesse caso a idéia era uma violentação da percepção do outro através da utilização de seu corpo. Então, a gente chamou esse corpo que a gente estava tentando desenvolver de ‘corpo vodu’. ‘Corpo vodu’ porque o bailarino seria um boneco vodu, as agulhas do vodu seriam os movimentos, e o feitiço e o foco seria o corpo do espectador. Então, algo necessariamente teria que ocorrer no meu corpo, e dessa forma modificar o corpo do espectador, enquanto empatia de espécie, e não enquanto racionalidade de mensagem, ou seja, representar o que estava acontecendo, no sentido ilusionista da coisa.
Naquela época, a gente se preocupava em ser aquilo que, de alguma forma, estávamos falando. Isso, óbvio, teve uma grande questão técnica envolvida, pela qual somos conhecidos até hoje: as quedas. Muita gente achava muito violentas as quedas no chão, mas, no fundo, a gente se inspirou muito em vídeo-game e em desenho animado, que tem uma violência muito forte, mas ao mesmo tempo, reversível. Aquilo renasce. O cara cai, um braço vai parar lá e depois volta, e está tudo certo. Se você for ver Tom e Jerry é extremamente violento. É martelada, facada, e está tudo certo. De alguma forma essa ideia precisava estar no corpo e não criar uma ilusão no palco para contar uma história sobre aquilo. Então, Violência foi um marco nesse sentido teórico-técnico-prático e no que chamamos agora de formação, treinamento e criação, que de alguma maneira colocou um ponto muito claro nas nossas definições de corpo. Uma delas é esse ‘corpo vodu’, partindo do pressuposto do corpo-sujeito-objeto, pois nós consideramos que também somos coisa. Então, enquanto coisa, nós começamos também a trabalhar essa relação com a gravidade, que tem a queda, mas tem também um malabarismo, como um jogo de controle remoto com seu próprio acionamento. Então, o que seria um jogo de controle remoto? Se eu segurar meu braço aqui, qualquer ação que eu estou fazendo nesse sentido é de controle direto. Se eu solto ele aqui, eu tenho que mexer a perna para soltar o braço, trabalhar… Dessa forma o controle passa a ter a ver com o peso, com um tipo de relaxamento específico, um tipo de controle muscular específico, que não é direto. Mas as quedas também têm que ter um controle que não é o direto. Porque não adianta você querer controlar tudo entre você, o chão e a gravidade, quando você se deixa cair. Você controla algumas questões, e você tem que controlar principalmente as que vêm antes, o movimento que vem antes do movimento visível. E aí, com certeza, também vai englobar um movimento neural. Uma formação, um desenho neural específico, que me interessa muito também.
Violência depois desencadeou uma série de outros trabalhos, um foi o projeto SKR, que foi um projeto de pesquisa junto à Fabiana Dutra para extrair o ‘Skinnerbox’, que é uma coreografia que estreou em 2005. Então ficamos três anos fazendo pesquisa para este trabalho. No Skinnerbox a gente também estávamos evoluindo, depois do que foi o Violência, pois ficou um pouco taxativo para a companhia. Todo mundo só queria ver a gente se jogar no chão. Então, para onde iríamos depois teve que ter uma verticalidade grande para achar também outras questões criativas que não fizéssemos uma dança contemplativa, com a diferença que ao invés de um grand jeté agora é uma queda. Então, ao invés de você fazer uma pirueta, você se joga no chão. Em termos éticos-estéticos é a mesma coisa: tem alguma gaveta onde isso cabia, e a gente não queria seguir desta forma; transformar a queda em passo. Então, uma das questões no Skinnerbox era tentar usar a robótica, óbvio que a gente usou o low-tech total, barato. Inclusive tivemos uma parceria com a Universidade para tentar criar os robôs, mas foi muito difícil, pois a gente nunca tinha dinheiro suficiente. Então, acabamos criando carros de controle remoto, alguns robôs de sensor de luz muito brutos, mas que serviam para que pudéssemos trabalhar com algumas hipóteses que chamamos de ‘comportamento de hardware’. Como é que uma coisa se comporta pela natureza da própria coisa? Então, um robô de luz vai simplesmente seguir luz. E como ele vai seguir? Vai depender do formato da roda, vai depender da onde ele está. Vai depender da função metafórica, no nosso caso, que ele cumpre seguindo essa luz. E também na função metafórica que o público quando vê essa relação… Então nos interessava estender dança à coisas, e que essas coisas não fossem não consideradas corpo, e com isso a gente também definiu, no nosso desafio, usar um cachorro. E aí a gente fez uma audição para cachorro, a gente comprou três filhotes de border collie, nomeou os três, o Akira, Kene e a Nina, e eles conviveram conosco em todos os dias de ensaio, desde pequenininhos até atingir mais ou menos oito, nove meses, quando começamos a treinar com eles. Só que o Kene era muito doidão, atacava todo mundo, não mordia forte, só que passava um pouco no limite das bicadinhas. O Akira era zen, não queria trabalhar, ficava na dele, ‘hoje eu vou, amanhã não vou’… Então também não deu. E a Nina foi um equilíbrio. A gente acabou utilizando tanto, que ela fez parte do Skinnerbox, fez parte do ‘Pequenas Frestas de Ficção Sobre Realidade Insistente’, que é uma evolução do Skinnerbox, mas outro espetáculo. Depois ela até trabalhou no ‘Guia de Ideias Correlatas’, que é um trabalho que tem algumas definições, algumas trajetórias escritas, e é como uma conferência-performance. Onde a gente fala e expõe através de cortes no nosso repertório, na nossa história de corpo e nas funções que a gente de alguma forma definiu, junto com textos que possam ser um pouco mais elucidativos. Lendo e vendo ao mesmo tempo.
Então a gente trabalhou com robô e com cachorro em Skinnerbox, que são modos de controle remoto também. Eu por exemplo, acabei ficando com a Nina. A Nina mora comigo até hoje, e a gente foi adestrado junto para poder se controlar. Então tem uma cena no ‘Pequenas Frestas de Ficção Sobre Realidade Insistente’, que eu chamo, ela sobe em mim, eu ando como se eu fosse o cavalo e ela estivesse montada em mim. E eu tento deixá-la de pé no chão o mais quietinha possível e eu vou me afastando. E então ela não pode se mexer, e eu também não posso me mexer. Então a gente fica assim por algum tempo, na ponta do palco, só tentando se manter quieto, os dois. Dependendo do lugar, tem platéia que assobia, geralmente o cara te testa para ver se o cachorro vai fazer alguma coisa. Mas o interessante não era nem esse teste, porque se aquilo se diluísse também estava dentro da proposta. O interessante era a tensão entre manter dois modos de operar a vida e formas de comunicação diferentes em determinado lugar, sob determinado contexto. E que isto tivesse a ver com essa ideia de ‘dança como algo’, como um fenômeno humano que a gente estende às coisas. Por isso a podemos dizer, o plástico está dançando, o cachorro está dançando. Na verdade, quem está dançando é o meu cérebro e ele está estendendo essa ideia em vários lugares. A gente queria trabalhar sob essa condição.
Depois disso, fizemos mais um trabalho – foram vários, mas tem um trabalho importante que foi o ‘SIM – Ações Integradas de Consentimento para Ocupação e Resistência’, que estreou em 2010, não veio para o Rio, não sei se vai vir. Era um trabalho com oito bailarinos, oito microfones e só quarenta pessoas no público, em uma sala mais ou menos desse tamanho, ou um pouco menor. A ideia era que a coreografia não acontecesse só com os bailarinos, nem com o público, mas na relação entre bailarinos-público, público-público e bailarinos-bailarinos. Ou seja, eles vão fazendo uma série de ações formais, e o público tem que tomar posição diante dessas ações. É uma ação sobre posicionamento político à queima-roupa, na verdade. Porque aquilo começa a acontecer, e você tem que tomar uma posição, e é muito sutil. Por exemplo, a gente começava com uma fila de microfones, que estavam no chão. Os bailarinos não mostram o rosto, no começo eles estão de cabeça baixa, e então eles formam uma parede com todos os microfones amarrados, microfones com fio. Eles começam a bater o microfone no chão e vêm marchando em linha na direção do público. O público inteiro vem acompanhando, e aí algumas pessoas do público que resolvem passar por baixo dos microfones e começam a assistir o público pelo outro lado. Tem pessoas que simplesmente fecham o braço e não querem deixar passar ou começam a empurrar. E aí começa uma dramaturgia das relações.
E foi com esse trabalho que a gente fez a ponte para pensar o tipo de coreografia a que chegamos agora, que é nosso último trabalho, que estreou em 2012, que dançamos aqui no Rio de Janeiro no Panorama de Dança, e também no teatro Nelson Rodrigues, que se chama ‘Carta de amor ao inimigo’. Neste trabalho a gente tenta fazer a passagem do SIM, que é uma situação coreográfica, acontecer num palco italiano, aonde a plateia volta a ficar fixa, não se move, então ela está, de alguma forma, segura com seu posicionamento. Mas tentar retirar novamente esse aspecto contemplativo da dança, aonde você vai acompanhando de longe, e tentar trazer o público para acompanhar aquela interação, aonde uma situação é lida, porque realmente está acontecendo. Não é só uma empatia, como era no ‘corpo vodu’, como começar a torcer minha cabeça para trás, por exemplo, e aí todo mundo vai, de alguma forma, estranhar. No ‘Carta de amor ao inimigo’ não tem esse lugar que tinha no ‘Violência’. Ele traz uma tentativa de convívio, como um algoritmo coreográfico situado no palco. E essa tentativa de convívio tem que, de alguma forma, criar uma dramaturgia emocional que não seja contemplativa em relação ao espectador e ao palco. É óbvio que isso não significa que você vai conseguir ou não, mas é uma tentativa de retirar da dança aquele aspecto de beleza e movimento único, assim como de juventude e vigor, e buscar sim uma potência de entender o tempo, e relacionar o tempo à criação das coisas. Porque, afinal de contas, as coisas são feitas de tempo.
Então, a primeira cena é só luz, são 3 minutos e a segunda leva uns 13 minutos para os bailarinos se mexerem para uma posição diferente, cada um. Porque eles vão entrando aleatoriamente, até todos chegarem a uma posição comum, e isso às vezes é muito irritante para o público, pois o corpo vai se mexendo muito lentamente, você sabe que está mexendo, mas ao mesmo tempo não está mexendo com a familiaridade do movimento que a gente espera da dança. E isso traz várias questões, inclusive para nós mesmos, até chegarmos naquilo ali. Também estamos inseridos no ambiente, com as mesmas familiaridades. Então, treinar isso é uma quebra de paradigmas, de questões, de auto-modelos para nós mesmos, o que às vezes é muito difícil, e é difícil manter um elenco com essa proposta. Porque quando o cara chega ‘agora eu consegui fazer isso’, e então passa não ser mais para fazer isso, agora a gente vai ficar paradão. ‘É isso que vai rolar?’. Então, às vezes incomoda inclusive o elenco.
Bom, nossa preocupação atual é um pilar de 3 questões: emergência, coerência e ritual. E do lado delas tem uma questão que me interessa muito que é ‘identidade enquanto entropia’. Identidade não como algo fixo – como um índice estável e constante – mas identidade como constante mudança, uma mudança precisa, mas uma mudança. E eu acho que para nós isso, enquanto formalidade estética, e principalmente enquanto alimentação de como você se reconhece e como você reconhece uma forma que muda o tempo inteiro. E qual é a nossa tendência: ao invés de reconhecer perguntando, a gente se reconhece grudando informações. Que é natural, a gente gruda as familiaridades muito rápido e não tenta desmontar essa construção. Eu acho que essa é uma das questões que a gente está tentando se perguntar e é algo que nos interessa agora: uma forma totalmente vinculada à um sistema de entropia. Uma desordem, uma dissipação de energia de modo que reordene não só a nossa significação, mas o nosso entendimento identitário. É claro que isso, enquanto um objeto artístico, está começando como uma primeira pesquisa que envolve som. Mas a gente quer, justamente, que todo esse som, toda essa forma e todo esse ritmo no tempo, sejam um pouco sobre a nossa própria identidade enquanto grupo, mas que fale sobre isso enquanto um modelo entrópico de identidade. Agora a gente está interessado em fazer um trabalho aonde a pulsação constante possa evidenciar uma forma mutável como identidade necessária. E isso é uma organização de controle do movimento, porque a gente tende a estabelecer uma idéia também de estabilidade. Formalmente é muito difícil de controlar muscularmente, e me interessa muito algumas funções que a gente possa ativar e de que modo a gente pode ativar essas funções. Um dos exercícios que a gente faz são dois tipos de aquecimento. Primeiro, é usando protetor auricular, tentando não ouvir, o máximo de silêncio possível. E ai na segunda parte, é com uma freqüência aguda muito alta durante quinze minutos. Então, aquilo ao mesmo tempo em que perturba, tu precisas ter uma qualidade adaptativa com foco externo – uma tentativa de começar a especializar modos de presença, e como é que essa presença altera o olhar do outro quando ele está presente daquela pessoa que está produzindo aquele ritual também. E trabalhar o ritual como um estar no tempo, ritual como procedimento segundo a segundo de você, de alguma forma, estar concebendo a idéia do agora. E isso é difícil, né? Então a gente está tentando treinar isso agora no nosso foco de trabalho.
(Veja um pouco do trabalho do Cena 11 neste vídeo que comemora os 20 anos da companhia. Leia mais sobre o Cena 11 no artigo de Anderson do Carmo e Jussara Belchior, publicado na Carbono #05 – Gravidade.)
Pedro Urano: Obrigada Alejandro! Vamos ouvir agora a Tania.
TANIA RIVERA
É um prazer estar aqui essa noite. Eu agradeço muito à Marina e ao Pedro por esse convite, que eu aceitei especialmente convocada por essa idéia, que é a da revista Carbono, que me agrada muito de colocar lado a lado as pesquisas científicas, mas o que também são pesquisas artísticas. Ou seja, essa idéia de que a arte elabora uma investigação, traz reflexões que podem entrar em diálogo com campos da ciência, com terrenos diversos da ciência. E não apenas um diálogo no sentido da ciência esclarecer algo, ou servir para alguma aplicação no campo da arte. De minha parte, eu confesso que fiquei extremamente agitada, em movimento pela fala tanto do Alejandro, quanto do John. E a mim interessa esse diálogo especialmente no que ele tem de transformador para ambos os campos. O diálogo entre a psicanálise, a filosofia e as investigações artísticas, como assinala o título dessa série de encontros. Deve servir para que ambos os campos se transformem, pelo menos se abram, se disponham a alguma transformação.
Não daria tempo de eu tentar desenvolver tudo o que essas falas suscitaram em mim, especialmente quanto à questão do sonho. E aí, eu me sinto quase culpada, porque como psicanalista, é como se eu fosse uma espécie de guardiã do sonho, que devesse falar algo sobre o sonho hoje. Eu estou me debatendo aqui se esqueço as coisas que eu tentei esboçar aqui para falar hoje e falo só sobre o sonho, a partir da fala maravilhosa do John, ou não… Mas eu vou deixar o sonho para depois. Hoje eu vou falar sobre movimento, principalmente. Acho que a psicanálise praticamente não trata do movimento, nem da dança, e essa provocação me tomou nas tentativas que eu fiz um pouco rápidas de reflexão hoje antes de vir aqui. E isso ficou mais forte ouvindo tanto John, quanto Alejandro, especialmente sob a forma do ritmo e do movimento. E eu tomei como uma espécie de desafio tentar pensar alguma coisa, a partir da psicanálise, a respeito do movimento. Não é óbvio e, no entanto, talvez seja muito direto num certo sentido, porque se trata na psicanálise do que Freud chama de ‘pulsão’. A pulsão é o que impulsiona, o que põe em movimento, justamente. Nós, psicanalistas falamos muito pouco de movimento, mas talvez isso se deva justamente porque nós estamos lidando todo o tempo, como que mergulhados, no terreno do movimento desejante. E a pulsão é uma espécie de grau zero desse movimento. Ela é o conceito que para Freud está na fronteira entre o biológico e psíquico. É um conceito fundamental para pensar o corpo, mas que não se confunde com o corpo na sua dimensão biológica. Pelo contrário, assinala um certo descompasso entre o corpo humano, o corpo do ser falante e o corpo anatômico. A pulsão tem a ver com o fato de que nossos movimentos não seguem os ritmos e esquemas pré-determinados pelo instinto. Portanto, se trata de uma certa imprevisibilidade dos movimentos humanos. Uma certa capacidade de invenção no movimento, se vocês quiserem, mas também um certo fracasso inerente ao movimento. Diferente do cachorrinho quando nasce, que consegue se arrastar até a teta da cadela que acabou de o parir, o bebê ele grita, chora, e move os pés, as mãos, no que talvez possa ser considerado uma espécie de dança primitiva – nossa primeira dança – de um modo que é totalmente imprevisível no que que vai dar. Bom, ainda bem, graças a Deus que, em geral, alguém ouve, se incomoda e faz algo a respeito. Mas não há nada, digamos, garantido nesse gesto do bebê. Essa primeira dança já é uma aposta em relação ao outro, já é um apelo, já é uma busca pelo outro. Isso talvez – fiquei pensando – não seja secundário, sem importância em relação à dança. Seja como for, talvez a gente possa pensar um movimento em duas facetas, duas vertentes: um movimento interno, que seria esse do desejo, de que a pulsão representa uma espécie de grau zero. Esse movimento que nos toma, mesmo que nós estejamos parados. Esse movimento que sacode o nosso corpo e nos coloca em movimento, mesmo que nós estejamos sentados na poltrona diante de um palco italiano no qual a Cena 11, por exemplo, está se apresentando. Porque há de fato, um espelhamento do movimento em relação ao outro, que é fundamental. Basta lembrar aquele célebre momento de desconcerto pelo qual nós passamos diversas vezes, quando se está, por exemplo, saindo do elevador e aí vem alguém para entrar no elevador, e você dá um passo justo para o mesmo lado que aquela pessoa dá. E os dois dão, então, outro passo para o mesmo lado, e você fica preso em espelho, numa situação bastante constrangedora em geral, mas da qual a gente rapidamente esquece. É como se aquela pessoa fosse o seu reflexo no espelho. Essa captura do espelho é fundamental para pensar a questão do corpo e do movimento. O antídoto para isso – só para, quem sabe, vocês saírem daqui hoje dizendo que eu ensinei alguma coisa (atenção: eu levei vinte anos de análise para aprender, não é uma lição pequena) – o antídoto é olhar para baixo. Se você para de olhar para a pessoa, você sai da lógica do espelho; você pode quebrar o espelho. Eu estou brincando, mas estou falando de coisas muito sérias…
Bom, esse movimento interno de que eu estou falando e que eu dizia que é diferente da ação do instinto, há algo de imprevisível nele, mas há também algo de gratuito. Talvez haja algo de excessivo. Quem já teve que cuidar de um recém-nascido sabe disso. As crianças gritam mais do que seria necessário muitas vezes, para que um adulto as ouvisse. Há algo de excessivo nesse apelo ao outro. Esse excesso, é disso que se trata com a pulsão. Freud define a pulsão como uma força constante. O que sempre me chamou atenção, porque no termo pulsão, há um certo ‘pulsionamento’, há uma pulsação, nós poderíamos pensar, e no entanto Freud fala disso como um movimento constante. Claro que em português, e em outras línguas latinas, que a pulsão tem esse caráter pulsátil; em alemão, não me parece que esse seja o caso. Mas seja como for, o que Freud sublinha a respeito da pulsão, é que se trata de uma força constante, e indomável, eu tenho vontade de dizer. Nessa constância, nessa idéia de uma força que sequer pulsa, mas está sempre de alguma maneira pressionando, há de fato um excesso. Me parece que boa parte do que Freud elabora na sua teoria, na sua compreensão do trabalho psíquico do seu funcionamento psíquico, diz respeito a isso, a essa transformação de uma força constante em algo pulsátil, em algo que tem um ritmo. Em um certo ritmo que Freud vai dizer com a sua ideia de princípio do prazer, ou o princípio do prazer/desprazer, como também o chama. Freud vai dizer que há uma oscilação na nossa atividade desejante, há uma oscilação entre desprazer e prazer. Eu sinto um desprazer muito grande, há algo que me impulsiona para a busca de um objeto de satisfação, de uma ação que me traga satisfação e graças a essa ação realizada, eu sinto prazer. Portanto, há uma espécie de montanha-russa que caracteriza o desejo humano. Você sobe o nível de tensão, enquanto está sentindo desprazer, e uma vez realizada uma ação específica que te alivia daquela tensão, você sentiria prazer. Esse princípio é fundamental para Freud no funcionamento humano. E ele implica um certo movimento, vejam: há um movimento interno que organiza a experiência em termos de desprazer e prazer. Ao lado disso que eu estou chamando, talvez de modo um pouco forçado, de ‘movimento interno’, há o que nós chamamos de movimento em geral, que seria o ‘movimento externo’. É o que de fato se vê como movimento e que tem a ver não só com a nossa atividade motora, mas também com a ação das forças do mundo sobre nós – especialmente a força da gravidade. Me interessou muito esse trabalho do grupo do Alejandro, da companhia da Cena 11, a respeito da gravidade, da queda. Eu acho que a queda é fundamental para se pensar uma série de questões humanas, de fato. E esse movimento externo, ele de alguma maneira tem sempre que lidar com a gravidade. Isso me lembrou uma fala de um artista, o Ernesto Neto, que tem a gravidade como algo fundamental no seu trabalho. Numa entrevista que ele me deu, ele deixou isso muito claro, e quem conhece seu trabalho sabe o quanto está em jogo uma certa possibilidade de suspensão e do peso do material, que transforma o mundo a partir das superfícies criadas nos seus trabalhos, que muitas vezes convocam o corpo a algum movimento, inclusive aquele de estar imóvel dentro ou em cima de um desses trabalhos. Seja como for, o Ernesto Neto fala da gravidade de uma maneira muito interessante, porque ele diz assim “nós estamos sempre caindo. A gente está sempre caindo na cama, a gente cai no chão…” É um pouco como o Cena 11 faz. “Nós estamos sempre caindo e o nosso corpo vai caindo”, ele diz também, lembrando uma dimensão temporal que faz com que a gravidade se torne visível, de fato, no corpo. Nós estamos sempre caindo, mas segundo ele, na sua reinterpretação astronômica dinâmica das forças do universo, na sua reinterpretação artística, ele diz: “a gente está sempre caindo, mas o movimento da Terra sobre ela mesma e sobre o Sol, nos mantém, de alguma maneira, em pé”. Então nós temos aí, pelo menos, duas forças. Uma que concorreria para que nós caíssemos, e outra para que nós ficássemos em pé. E nesse jogo entre cair e ficar em pé, aliás lembrando o ritmo sono/vigília, nós levamos a nossa vida. E talvez, a boa parte da nossa vida se dedique a uma transformação da queda em passo, passo de dança. Estou te parafraseando, aliás, estou te citando. Você disse “a queda para transformá-la em passo”.
Alejandro Ahmed: Nosso caso, a gente tenta transformar ela em conduta. Tenta fugir de transformar ela em passo, porque o passo, de alguma forma, encerra uma qualidade estética e ética, que é vinculado a algo estático, a conduta é algo adaptativo. E ela não se treina da mesma forma que o passo, mas eu entendi, é nesse sentido, mas mais como conduta que como passo fechado.
Tania Rivera: Entendo. Não como passo de dança predeterminado, mas como a possibilidade da queda fazer um movimento para ir além.
Alejandro Ahmed: Sim. É um movimento preciso encerrado num tipo de ação, mas que é mais conduta do que passo. Eu entendi. É só porque é uma coisa bem específica da briga da dança, tipo o ‘passo de dança’.
Tania Rivera: É, o passo é uma palavra fantástica. Vai além desse sentido específico que ela toma na dança, como um passo já predeterminado, que segue toda uma série de códigos bem estabelecidos, etc. Mas o passo, dar um passo, é algo fundamental.
Pedro Urano: E, tecnicamente, o passo é uma queda.
Tania Rivera: É uma queda?
Pedro Urano: É uma queda controlada. Caminhar é você estar sempre se jogando e se amparando. Você precisa se jogar, você precisa criar uma instabilidade, ficar em um pé só, para andar.
Tania Rivera: O passo talvez seja uma transformação da queda, justamente. E essa transformação, eu acho que é fundamental para gente pensar o movimento: o movimento como algo que não tem a ver com uma ação predeterminada em busca de algo específico, mas o movimento que tem a ver com o que nessa transformação de queda em passo, com o que nós poderíamos nomear como gesto, ao invés de ação. Há algo no movimento que é gesto. É claro que, se eu me levanto daqui e vou pegar água ali, eu vou realizar um movimento, estarei realizando uma ação muito claramente predeterminada e tendo como objetivo algo muito específico, mas provavelmente haverá nesse meu movimento, algo que eventualmente poderá ser visto como gesto. Acho que não, porque eu não sou uma dançarina, mas vai lá, às vezes um gesto ou outro escapa. Há algo no movimento que se dá ao olhar do outro, e que vai além da ação visada eventualmente por esse movimento. Eu acho que a dança tem a ver com essa dimensão do gesto, e o gesto não se limita à dança, como linguagem artística, como modo de expressão artístico. O gesto se dá a ver nos objetos também. Eu acho que o gesto é uma dimensão fundamental para pensar a arte, em geral. Como uma certa presença do corpo em movimento como que cristalizado, tal como esse movimento incidiu sobre um determinado objeto. O objeto pode carregar um gesto humano, assim como o corpo humano pode fazê-lo. E o fundamental do gesto é que ele é um apelo ao outro. Ele convoca o olhar do outro e ele convida o outro a algum gesto, a algum movimento, e nesse convite talvez haja uma possibilidade de um gesto subversivo, de algo capaz de transformar o sujeito e o mundo. Lacan fala do gesto, e ele está falando do que ele de ‘ato analítico’. Ele fala do gesto de uma maneira que me parece muito bonita: ele fala do gesto de passar a página como algo capaz de mudar o sujeito. Esse gesto que não é mais do que um gesto de mão, passar a página, poderia indicar algo fundamental, algo muito transformador do sujeito. E é, diga-se de passagem, isso que tem a ver o que visa uma psicanálise. Quando Alejandro falou ‘transformar a queda em passo’, isso me fez pensar que talvez essa fórmula fosse muito interessante para pensar o que uma análise permite, o que uma análise pode realizar na vida de alguém. Você não vai deixar de cair, mas talvez, dê para cair um pouco melhor. Talvez você tenha conseguido colocar um ritmo na queda, como os dançarinos do Cena 11 fazem. Eu fiquei procurando o ritmo aqui, tem ritmo, não tem? Você sabe o que que vai cair primeiro, você controla essa queda, por mais que ela pareça totalmente impulsiva, se trata de aprender a cair, não é, Alejandro?
Alejandro Ahmed: É, na verdade, a queda é uma relação com o chão. Diferente de andar e tal. Não é só cair, porque cair seria um acidente. Para que não seja acidental, que ela consiga se replicar enquanto conduta viva e capaz de gerar metáfora, ela tem um estado de controle, que também depende de cada corpo. Muita gente vai fazer a aula com a gente e quer aprender a cair, nesse sentido. Vai virar um workshop de violência cênica, o que até já pediram. Claro, porque é uma tecnologia interessante, onde a gente aplica técnica e em alguns tempos a gente já trabalhou com isso, só que agora a gente está um pouquinho mais…
Tania Rivera: Porque no fundo cair é muito bom, por um lado…
Alejandro Ahmed: Cair é bom. Eu nasci com uma doença congênita que chama osteogênese imperfeita, então eu tenho vinte e seis fraturas. Então uma das questões para mim foi aprender a cair. Mas foi naturalmente, na minha família ninguém nunca fez muito drama, porque era um grau muito baixo, porque em graus mais altos pode ser muito grave. Então, assim, ou a criança fica toda deformada, não consegue lidar com as coisas, ou morre logo cedo. Então, também acho que teve a ver com isso. A gente criou uma dança de risco talvez para lidar com uma idéia de medo, aonde vigor e fragilidade tivessem um lugar comum, um trânsito comum.
Tania Rivera: De fato, eu acho que cair pode ser muito bom, ou existe uma atração na queda, apesar da queda poder machucar.
Alejandro Ahmed: É, existe uma liberdade, uma sensação de liberdade quando você pode fazer algo que normalmente poderia causar um dano, e aquilo não te causa dano. De alguma forma, você está livre de algumas questões, livre também do seu próprio controle, porque é uma ação aonde não é uma entrega total, mas é um nível de disponibilidade controlado. De alguma forma, você cria labirintos de encontro com algumas possibilidades de poder, que tem a ver com despojamento também, tem a ver com entrega.
Tania Rivera: Tem algo de se entregar a esse movimento, que é o do mundo sobre você. Essa força que é a do mundo sobre você.
Pedro Urano: A gente parece que passa a vida inteira lutando contra a gravidade e aí, nesse sentido, pode ser realmente tentador se entregar a ela.
Alejandro Ahmed: A gente fala que a gente luta contra a gravidade, mas eu acho que a gente se molda junto com ela. Quando a gente nasceu no planeta, a gente passa metade da vida tentando ficar bem, e depois a outra metade explorando também o que vai acontecer.
Tania Rivera: Mais do que adaptação, mais do que aprender a cair, eu acho que há um malabarismo nisso, entende? Eu acho que há uma subversão. Eu encontrei talvez algo que nos ajude a pensar sobre isso na fala de um grande mestre do Butô, que é o Hijikata, que dizia assim numa das notas dele: “Pouco importa o que você faz. Importa somente o que você se deixa fazer. Então, se pode dizer que é o mundo que se lança no corpo”. O mundo que se lança no corpo.
Alejandro Ahmed: O Hijikata é demais, né? A Helena Katz que é crítica do jornal Estado de São Paulo, além de ser professora da PUC, ela falou uma vez que o que a gente estava fazendo é que o movimento ataca o nosso corpo. E a gente está procurando também, às vezes numas armadilhas de um tal realismo, a gente às vezes se perde um pouco nesse lugar. A gente agora está flertando mais com a ficção do que com o realismo. Interesse maior com a ficção e com o poder ritual que ela tem de transformação e voltando um pouco às nossas origens overacting e que a gente está chamando agora de ultra acting. Invés de ser o overacting, que é você agindo demais, totalmente fora, é o ultra, tentando concentrar o negócio, tipo um expresso pequeno, mas potente.
Tania Rivera: É! Porque eu acho que o malabarismo, esse gesto subversivo, ele não é necessariamente espetacular, no sentido assim que a gente fala do malabarismo circense. Eu acho que às vezes ele é muito sutil. Talvez ele até seja nada mais do que um certo ritmo que se imprime ali. Há algo que pode ser muito sutil e muito poderoso ao mesmo tempo, como o gesto de passar uma página.
Alejandro Ahmed: E ao mesmo tempo, você tem uma dificuldade da própria construção do que você vai mostrar para um público, de como você vai dialogar, porque esse diálogo também vai criando adeptos dentro das familiaridades que a gente tem, inclusive de mercado. Então, você quer ver o outro cair, você quer comprar aquilo. Então, às vezes, as sutilezas se perdem na sua necessidade de ver grandes espetáculos. E a gente sofre pela gente mesmo. Quando as pessoas vão assistir o Cena 11 uma segunda vez, e já assistiram por exemplo o Violência, como rolou lá em Blumenau, no interior de Santa Catarina…
Pedro Urano: Se ninguém cair, o pessoal fica frustrado.
Alejandro Ahmed: Os primeiros quinze minutos foi só luz. E seis bailarinos quase parados no palco com micro movimentos. Tipo, a galera vai embora, literalmente. ‘Qual é? Vocês não eram os caras que faziam o negócio, que tinha cavalo no palco, cachorro?’.
Pedro Urano: ‘Vocês não são mais os mesmos….’
Alejandro Ahmed: Mas os caras até escreveram no facebook: ‘esse ai ficou a dever mesmo, porque vocês não fazem mais o que vocês faziam’.
Tania Rivera: Mas essa é a origem do cômico, Freud que diz isso. Quando o palhaço cai, e todo mundo ri, todo mundo ri porque pensa assim ‘ele caiu, eu não’. Então o seu público talvez, claro, para dizer ‘eu não caí’ e rir com isso, é porque se caiu um pouco internamente. Mas seja como for, há uma espécie de des-identificação, de quebra do espelho.
Alejandro Ahmed: O palhaço é uma das referências do Violência, inclusive, que é a idéia de ex-acrobatas que tentavam fazer e aí caíam, e botavam palha no corpo para se proteger. E no fundo, o palhaço era um antigo, quando surgiu no circo, ele era um paglietti, de palha, e era um antigo acrobata. Eles ficavam velhos no circo e tinham que fazer alguma coisa. Eles faziam, só que faziam meio torto, e aí começou a surgir, e a coisa foi se expandindo. Então, a idéia de assumir a falha como virtuose, capacidade de modificação pela não-familiaridade e pela familiaridade ao mesmo tempo, é uma das coisas que também levou a gente a começar a desenvolver esse lugar.
Pedro Urano: Bom, agora a idéia é abrir um pouco para o público, ver se vocês têm qualquer pergunta para fazer. Eu acho que a Marina tem algumas perguntas e eu também. Eu queria, na verdade, estou muito curioso para entender melhor o que você falou da entropia como identidade.
Alejandro Ahmed: A identidade como entropia.
Pedro Urano: A identidade como entropia? E eu queria entender um pouco melhor essa idéia. Porque a entropia tem relação com as leis termodinâmicas e dizem respeito a…
Alejandro Ahmed: A flecha do tempo, por exemplo.
Pedro Urano: Exatamente. E que a ordem tende à desordem, certo? Então, eu queria entender um pouco essa relação.
Alejandro Ahmed: Essa ordem a partir da desordem é que nosso conceito de identidade está sempre relacionado a uma estabilidade, seja de pertencimento de grupo, seja de pertencimento estético de si mesmo, seja pela relação entre o que eu quero ser e o que eu sou no espelho, ou do que eu acho que eu devo ser, seja pelas marcas que eu uso, e etc. Quando a gente está trabalhando esteticamente em dança, o movimento tem que ser de alguma forma identificado, eu tenho que ver o que você está fazendo, eu tenho que ler aquilo, eu tenho que valorar aquilo pela qualidade de precisão dentro de uma clareza formal daquilo que está sendo mostrado, feito. E o que a gente está tentando pensar agora é que talvez o nosso entendimento de identidade como algo estático seja um dos problemas para lidar com outros modelos formais. Isso não significa que a identidade não é estável, mas que a estabilidade dela é de uma outra ordem e não tão estática e com índices tão fortalecidos quanto a gente pressupõe.
Pedro Urano: Quer dizer, é uma ideia de uma identidade que é dinâmica, em essência. Que está em permanente transformação.
Alejandro Ahmed: Isso vai desde gênero, até, sei lá, tabela de cores e por aí, na nossa especulação. Formalmente, o que está acontecendo com o que a gente está fazendo agora? Primeiro, começamos a trabalhar uma coreografia generativa, que se auto produz, sem ser improvisação, e agora a gente quer que o próprio movimento tenha esse lugar. Então, nada pode ser necessariamente estável, a ponto de capturá-lo apenas de uma maneira. Eu tenho que capturar a imagem por princípio e não por fotografia.
Pedro Urano: Pela ordem generativa mesmo.
Alejandro Ahmed: E aí, é essa a ideia de identidade enquanto entropia, para que possa surgir a forma como emergência, e não como uma coisa grudada, ou uma urgência, que são termos bem diferentes.
John Araujo: Eu gostaria de voltar à algumas provocações do Alejandro com relação à queda e ao sono. Alguém aqui já caiu durante o sono? Todo mundo cai. O estudante que está lá sentado na carteira, acha que quase caiu, olha para um lado e para o outro, mas ninguém percebeu. Ou então está dormindo e acorda assustado, achando que caiu em cima da cama. E na verdade, ele não caiu, ele estava na cama. Algumas culturas místicas dizem “eu estava viajando, tinha saído do corpo e tal”. E na verdade, é porque para nós foi fundamental no processo evolutivo nos tornarmos bípedes, a gente teve que desenvolver um sistema de equilíbrio espetacular. Então, a gente tem um sistema que detecta a gravidade. Toda a nossa musculatura dorsal – ou seja, as nossas costas, atrás das nossas pernas, o pescoço – a gente diz que é uma musculatura antigravitacional. Ela está sempre contraída, nunca relaxa, não ser enquanto nós dormimos durante sono em que nós sonhamos. Enquanto isso, não, está sempre em atividade. Agora tem um momento da nossa vida, enquanto nós estamos acordados, que esta musculatura antigravitacional desaparece: quando os bailarinos, os atores, brilhantemente caem, quando a gente cai. Quando a gente cai, a gente está em queda livre. Se a gente está em queda livre, não tem gravidade. A queda livre anula a gravidade, nós estamos descendo igual a gravidade. Na verdade, quando eu durmo, estou numa fase que todos os meus músculos estão em atonia, ou seja, não estão em atividade, não estão contraídos. Só que eu acordo, em questão de milésimos de segundos de diferença de um para o outro. Como é que meu cérebro interpreta? Que eu caí em cima da cama. Porque o que eu aprendi é que eu só fico com a minha musculatura antigravitária zerada, quando estou caindo. E por isso que eu acho que eu caí em cima da cama, ou eu acho que eu quase caí da carteira, no cinema, ou na sala de aula e etc.
Existem inclusive algumas patologias que nós chamamos paralisia do sono. Você entra em sono, sono paradoxal em que você tem atonia muscular, o cérebro fica igual a acordado, você sonha. Mas ai, você acorda o cérebro e não consegue desligar a inibição do músculo; você acorda paralisado. Às vezes a gente tem isso, pode acontecer um ou dois episódios na vida. É natural isso acontecer. É uma diferença entre o acordar e desligar esse processo inibitório do músculo. Mas tem gente em que isso é muito grande, dura cinco minutos. Imagina você acordar, estar consciente, ver tudo e não conseguir falar, não conseguir mexer os braços. Você está respirando e mexendo os olhos. Qual é a sensação que as pessoas têm? O paciente chega ao consultório dizendo “doutor, eu tive um AVC hoje, tive um derrame, porque eu não conseguia me mexer”, na verdade, era uma paralisia do sono. Algumas alterações neurológicas podem levar a isso. Isso tem muito a ver, ao questionamento que o Alejandro fez: como eu consigo aprender novos movimentos? Aí eu pensei: ‘olha, eu acho que eu tenho que chegar em Natal, ou em qualquer universidade hoje, e quebrar o muro que separa a escola de artes e a escola de fisioterapia’. Porque é isso que a gente faz na fisioterapia. A gente quer re-ensinar as pessoas. É uma coisa interessante, porque existem poucos lugares no Brasil que tem, mas em alguns lugares já existe, em algumas clínicas e inclusive em universidade pública, que é a questão da virtualidade do movimento. Fazer o movimento virtual ou fazer o movimento durante o sonho são duas coisas fundamentais para o nosso processo de aprendizagem. Então imagina o seguinte, um sujeito tem uma lesão medular e não consegue mexer as pernas, fica paralítico. O que que eu faço? Eu levo ele para uma máquina que é basicamente o seguinte: eu levanto o sujeito, ou seja, todo o seu peso fica segurado pela máquina, mas as pernas ficam soltas. Embaixo, eu tenho pernas artificiais por trás que vão fazer o movimento. Então, o movimento, eu vou caminhar, não por vontade própria, porque eu não tenho conexão entre meu cérebro e as minhas pernas, mas eu consigo caminhar porque eu faço por fora. O que eu faço? Eu ponho um espelho na frente, só para o paciente ver. Por que que eu faço isso? Eu sei que isso não vai fazer ele voltar a andar, mas vai fazer a musculatura dele não atrofiar, ou seja, não ficar fininha. Porque o nosso segundo coração está aqui, nas pernas, que estão bombeando sangue toda hora para cima. Um indivíduo que tem lesão medular, ele vai morrer, não é por causa da lesão medular em si, é porque ele vai perder essa musculatura aqui. Ele vai ter muita pneumonia, ele vai ter uma insuficiência cardíaca por causa disso. Então eu preciso que ele faça os movimentos das pernas artificialmente.
Tania Rivera: E para que o espelho?
John Araujo: O espelho é para ele ver. Hoje ele já faz virtualmente. Eu estou filmando e ele está vendo lá no computador e isso é a reaprendizagem. Ele reaprende a tentar fazer o movimento só em ver algo externo. Que é um pouco o que os bailarinos fazem. Eles aprendem a cair, ou aprendem a fazer qualquer movimento. Nós temos uma capacidade gigantesca de aprender movimento. Eu gostei muito dessa discussão, de trazer a ciência e a arte, que eu acho que essas proximidades que a gente precisa construir. A gente precisa ter um artista dentro de uma escola de fisioterapia, a gente precisa ter um artista dentro da escola de neurologia. Como eu preciso ter um neurologista na escola de artes.
Por exemplo, o indivíduo com Parkinson não consegue andar. Se ele for andar, ele vai fazer isso e não vai conseguir andar. Mas se eu botar ele em cima de uma bicicleta, ele anda normalmente. Ninguém consegue dizer que aquele sujeito que está andando de bicicleta tem Parkinson. Por quê? Porque com o movimento rítmico, que já está aprendido, não tem problema. O problema do Parkinson é iniciar o movimento, fazer o voluntário. Se alguém me pedir pra fazer aquela queda, eu jamais vou fazer, eu não consigo cair daquele jeito. Mas eu posso aprender a cair. Talvez, na minha idade não tenha coragem de aprender a fazer aquelas quedas tão bonitas como os artistas demonstraram ali, mas eu acho que você tem toda a razão quando faz essa provocação para a gente, uma provocação de quebrar essas barreiras, de trazer e mostrar que é possível…
Alejandro Ahmed: Vou até fazer uma pergunta técnica. Porque eu tive acesso agora a um dispositivo que estão inventando através do HÍBRIDA. É um dispositivo que usa eletrodos de eletroencefalograma e ele tem uma interface que traduz essas ondas cerebrais via Bluetooth. Então eu posso usar isso daqui e dependendo da onda que eu faço, eu posso mudar a cor da luz da sala. E fazer uma coreografia com isso seria super, só que a minha pergunta é: como a gente consegue saber que eu vou produzir tal tipo de onda? Tem determinados comportamentos cerebrais que vão produzir tal tipo de onda, e aí eu consigo controlar através desse comportamento no corpo, essa ação do cérebro, para tal tipo de onda, para todo mundo fazer tal coisa, ou mandar um comando X ou Y.
John Araujo: Essa é uma questão muito interessante. Existem já algumas ondas que a gente sabe que é muito fácil produzir, que é um padrão que a gente chama ‘onda alfa’. ‘Onda alfa’ é uma onda especialmente produzida pela minha parte posterior, que é o córtex occipital. Se eu fechar os olhos, quanto mais eu relaxar, mais a onda alfa aumenta, mais fácil eu consigo detectar.
Alejandro Ahmed: É interessante esse capacete, só que ele não parecia um capacete, parecia um fone só que ele acopla aqui. Aí se a gente entrar em alfa fica tudo azul. Tem um enfermeiro que diz: “você não está relaxado, está vermelha sua luz. Relaxa mais”.
John Araujo: Tem um professor de engenharia, o George, que fez um sistema que ele até brinca que vai substituir o personagem que vai chutar a bola na abertura da Copa. Porque ele fez um sistema simples, ao custo de cinqüenta reais, na verdade, e consegue detectar a onda alfa. Aí ele faz um software no computador no qual quanto maior é a onda alfa, o software leva uma bola de um lado ao outro da tela.
Pedro Urano: Há um caráter paradoxal, porque quanto mais você relaxa, mais você comanda, é isso?
John Araujo: Mais você comanda, é claro, e aí, quem tem mais essa capacidade de relaxar, vai e chuta a bola. Lá no congresso de iniciação científica, eles fazem uma competição, e é uma coisa bem simples de você fazer. Agora, é claro, para fazer um comportamento mais complexo, você precisa de um instrumento com mais detalhes. Mas, essa é uma demonstração da possibilidade de você utilizar alguma informação biológica para você controlar algo que está externo.
Alejandro Ahmed: E ver se a gente consegue metáforas complexas, isso que é interessante, a expansão às vezes é barato, simples, você consegue acessar. Porque às vezes, uma sofisticação é prolixa. Então, você mexe a mão aqui e toca, sei lá, uma centena de ‘não sei o que’, e aí é tão complexo, tão autofágico, que quando se relaciona com o público… É muito mais uma relação entre você e o dispositivo, do que uma relação de produzir metáforas potentes. Então, eu acho legal quando é simples. Principalmente, quando é simples e barato.
Pedro Urano: Só fazer uma parte aqui, que eu acho que nem sempre as pessoas estão a par, mas essa interface homem-máquina é uma das áreas de pesquisa do Miguel Nicolelis que foi um dos fundadores, não era o instituto de neurociência, que continua lá em Natal. O Miguel Nicolelis é um neurocientista brasileiro, e é o que prometeu que o pontapé inicial da Copa de 2014 seria dado por um tetraplégico que teria voltado a andar por uma interface homem-máquina. Isto ficou conhecido como o The Walk Again Project, enfim, só para esclarecer. E é legal que, até onde eu sei, um dos grandes interesses do Nicolelis não é tanto a ligação mente-máquina, mas a ligação mente-mente. Enfim, que eu não sei bem o que é e me parece extremamente assustadora. Mas, só dando essa informação…
John Araujo: Mas o próprio Miguel diz que máquina-mente já existe muito, a televisão já domina nossa mente, já faz o que quer. Então isso é coisa do dia-a-dia. A idéia é como é que a gente vai conseguir interagir entre a gente de uma forma melhor.
Pedro Urano: Inclusive eu já vi dispositivos, como esse que é um capacete, um implante com os eletrodos, mas a conexão com a prótese é por wi-fi. Fico imaginando que terrível, não é? Se existe uma interferência, ou qualquer coisa, deve ser uma coisa estranha.
Alejandro Ahmed: É Bluetooth.
Pedro Urano: Socorro! Você vai entregar o comando das suas pernas a uma conexão Bluetooth. Parece assustador.
Alejandro Ahmed: E dá medo, né? Os caras vão ficar ali, fazendo tu correr na rua.
Público: Vou perguntar para o Alejandro. Eu me interesso muito pela questão da queda, me emocionei muito com sua fala. Você falou que é uma relação entre o chão, o corpo e a gravidade. Eu fiquei curiosa para saber mais sobre estudo que acontece antes da queda.
Alejandro Ahmed: Na verdade, depende muito das pessoas que estão envolvidas com você para fazer isso. Então, não é um comando de um diretor para alguém agir de alguma forma, não pode ser feito dessa maneira. Nenhuma pesquisa que a gente realiza em conjunto é uma pesquisa hierárquica. Elas são funções transitórias e que você só chega com aquelas pessoas que, de alguma forma, fazem parte daquele grupo. Isso é bem importante. A gente começou primeiro com algumas lógicas de absorção de impacto. Assim como a gente coloca a mão, essa concavidade da mão acaba absorvendo o impacto e não dói. Se você deixar a mão rígida e bate em cima, ela vai dividir o impacto entre você, a mão e o atrito. Então, se você diminui o atrito e horizontaliza o atrito, a gente descobriu que isso, de alguma forma, possibilitava ações com o chão de outra categoria. Que não fosse só do deslizamento horizontal, mas que a gente também podia deslizar caindo. Porque aterrissar um avião também é cair. Tem uns que jogam mais, uns que jogam menos, mas é cair. Então no fundo, a gente começou a tecnicamente perceber isso com essa influência do Flying Low, que é a técnica do David Zambrano, que eu estudei um pouco nos Estados Unidos, e que é uma técnica de perfeição. O Flying Low é muito rápido e muito preciso. Eu não o fazia preciso, então eu comecei a assimilar a falha como propriedade da técnica, enquanto minha adaptação àquilo que eu estava fazendo. E isso começou a me interessar em torno de 1997, quando eu voltei e comecei a aplicar isso dentro da companhia e a gente foi chegando nesse lugar.
Agora sobre o movimento que antecede, a partir do momento em que você realmente se coloca em risco, se você falhar… Isso não só com a queda, eu acho que quando o Bob Burnquist (skatista profissional) sobe naquela mega rampa e olha para baixo para ‘dropar’ de skate, tem que ter algo que aconteça antes, que o leve a fazer aquilo, senão o cara vai embora. Até o último clipe dele é inacreditável, que ele sai da mega rampa e voa! Solta o skate, se agarra no helicóptero, fica agarrado no helicóptero, o helicóptero levanta e ele solta do helicóptero lá em cima. Claro, eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu acredito que sim. Ou seja, o cérebro tem que trabalhar de alguma forma muito especial para você poder conduzir o seu corpo junto, cérebro e corpo é uma coisa só. E o que surge no início, principalmente, é esse receio, esse medo, e o medo faz com que você se machuque. Por que o que o corpo faz? Na última hora ele se defende. E quando você se defende, você tensiona. E quando você tensiona, o impacto é vertical, ele não é horizontal. Você não espalha o impacto, você verticaliza ele, e isso traz dificuldade. Então, a concentração é você ficar o mais tranqüilo e com a maior disponibilidade possível. E isso tem que acontecer antes. E ai, leva um tempo para que você consiga fazer isso naturalmente e depende da característica de cada pessoa. Tem pessoas que nunca vão fazer. E é uma questão psicológica mesmo, do corpo. Faz parte, é um outro tipo de corpo. Ou vai fazer isso de outra forma, então também não nos interessava homogeneizar isso e criar uma hegemonia de quem faz queda. Nosso interesse é trabalhar com corpos muito diferentes, mas que não seja um zoológico também. Não é para você ver: ‘Olha, que legal. O cara ai tem uma barba branca, o outro é barbudão. Ah, que interessante’. Não, é para poder criar também tecnicamente uma visibilidade de adaptação social. Uma idéia de convívio mais real. E uma idéia de espelhamentos que nunca são simétricos. E isso nos traz também possibilidades técnicas de outra ordem e precisão coletiva de outra ordem. Então, tem que ter autonomia coletiva, mas também necessariamente para isso, tem que ter singularidade. E aí, acho que também esse movimento anterior, eu não posso falar por todos, mas ele sempre precede uma concentração de disponibilidade. Acho que a maior parte da técnica é de disponibilidade, não é nem de não ter medo. Não, não é não ter medo, porque às vezes, por não ter medo, o cara simplesmente se joga e acaba tecnicamente não conseguindo. É você estar disponível. É sempre um controle da mudança. E quando a gente aprende nas técnicas ocidentais, principalmente de dança, o controle é a grande moeda. O controle evidenciado como algo que você domina é a moeda de mais valor. E a gente inverteu isso também para, ao modo do controle remoto, passar a ter uma potência grande sobre aquilo. Mesmo sabendo que numa dança clássica, por exemplo, para uma bailarina ficar numa ponta de gesso com o peso inteiro do corpo, por mais leve que seja o corpo, é uma dinâmica de mudança constante no corpo para ele poder ficar suspenso ali. Então, no fundo é a mesma coisa, porque são corpos da mesma espécie. Porém, a aparência do movimento das técnicas ocidentais do início não é essa, né? Não inclui a falha, nem a mudança, nesse sentido. Inclui a precisão e o comprimento de uma promessa, quase esportiva, que não é esporte e ao mesmo tempo passa pelo esporte. Você faz uma grande manobra. No esporte, você ainda tem uma idéia de superação no sentido de tempo, de ver como é que seu corpo consegue fazer aquilo, de uma tarefa a ser cumprida. Quando o esporte passa a ser a serviço da arte, ele de alguma forma, perde o seu valor de esporte. Também não é esporte, então assim, é necessário se perguntar: o que é? Você coloca essa hierarquia de valor num dado de precisão que não é para cumprir uma tarefa, mas é muito próximo, a meu ver. É uma discussão que a gente tem sobre uma idéia de poder, de territorialização, de pertencimento, de modelos de sucesso. E ao mesmo tempo, quando você detém a técnica da queda, você começa também a poder cair, naquilo que eu chamei de passo, que não necessariamente era aquilo que ela estava falando, mas uma idéia de passo nesse sentido, como passo quase esportivo, quase uma idéia opressiva de poder de território de conquista e de sucesso sobre os outros. ‘Olha só, eu consigo fazer isso aqui.
Marina Fraga: Questão de virtuose, virtuosismo do movimento.
Alejandro Ahmed: O virtuosismo não é o que me incomoda. Mas o que é o virtuosismo, nesse sentido, e politicamente, para que ele serve? E como ele funciona como uma criação de modelos de pensamento, de modelos políticos e modelos econômicos? E ele não é só vendido para quem quer comprar aquela coisa, mas ele é vendido também para quem quer ser aquela coisa, e para quem nunca vai poder ser aquela coisa e tem que trabalhar para poder estar perto daquela coisa, e por aí vai… Então a gente tenta o tempo inteiro chegar em alguns lugares, que no fundo estão sempre dialogando com aquele começo dessa idéia de ‘corpo vodu’.
Público: Eu queria perguntar para a Tania e para o John. Existe na física essa busca da teoria unificada: da teoria da relatividade, da gravidade, que é uma busca fundamental da física. E eu queria saber, apesar da Tania não ter falado do sonho, a partir do ponto de vista Freudiano e psicanalítico, se há, no ponto de vista de vocês, a possibilidade de uma teoria unificada do sonho, no sentido de uma convergência das pesquisas neurológicas, com as pesquisas psicanalíticas. E também saber se você estuda Freud para pensar o sonho em algum momento da sua trajetória.
John Araujo: Então, eu vou responder da seguinte forma: primeiro, eu acho que os Freudianos investigam muito pouco. Eu acho que há uma deficiência de produção de pesquisa na psicanálise do mundo. Não sei exatamente o motivo, porque não sou um estudioso da história da psicanálise, mas eu acho que a psicanálise se distanciou muito da pesquisa científica, do método científico de buscar novas coisas. Assim que eu vejo, de uma forma muito grosseira, a leitura que eu tenho dos psicanalistas, dos textos que eu tenho tido acesso. Eu não estudo Freud, o que eu tenho feito é tentado mostrar para os psicanalistas, para aqueles que têm interesse em fazer pesquisa e em avançar na psicanálise, que eles olhem os fenômenos que nós da neurociência estamos descobrindo. Eu tenho colegas que são neurocientistas, que são defensores e estudam Freud a fundo. Eu não, eu não estudo, não tenho uma formação nisso e acho que precisaria me dedicar muito para entender Freud. Então eu prefiro mostrar para os psicanalistas, aqueles que entendem bastante Freud, os fenômenos biológicos que estou conhecendo. Por exemplo, recentemente eu publiquei um artigo sobre sonho lúcido numa revista que é de neurociência e psicanálise. Então, neste artigo estou dizendo claramente: ‘Olha, sonho lúcido é um fenômeno que várias pessoas no mundo já mostraram, nós mostramos, mostramos inclusive incidência no Brasil, a característica dele, e consideramos que para nós é um fenômeno importante, e que os psicanalistas devem se interessar’. Na época do Freud, não se falava sobre sonho lúcido. Mas o fenômeno está ai e consideramos que provavelmente ele deve servir à psicanálise, ao crescimento da psicanálise. Então, nesse aspecto, eu acho que a neurociência tem a oferecer instrumentos para a psicanálise. Na minha área específica, eu tenho pouca coisa para receber da psicanálise, mas não significa que em várias áreas da neurociência, a psicanálise tenha a mostrar, eu acho que sim, eu acho que alguns conceitos que Freud postula devem ser levados em conta para a gente entender alguns fenômenos, quando a gente está trabalhando sobre análise neurobiológica, sobre as emoções, se eu estou estudando um modelo neurobiológico sobre a psicose bipolar, ou uma depressão bipolar. É importante que eu leve em conta não só o dado neurobiológico que eu estou investigando atualmente, mas a concepção que os psicanalistas construíram desde Freud até a atualidade, que pode fornecer elementos que me direcionem a criar um modelo neurobiológico interessante, como Freud queria na época em que ele estava escrevendo o modelo neurobiológico, no final do século XIX. Então, eu acho que são as duas coisas, eu especificamente não estou fazendo isso, eu quero dar a contribuição, e estou aberto a sugestões dos psicanalistas.
Pedro Urano: Antes da Tania responder, queria só lembrar que tem um colega do John lá em Natal, que é o Sidarta Ribeiro, com o qual publicamos uma entrevista na terceira edição da Revista Carbono. Fizemos exatamente essa pergunta e a resposta dele foi que ele encara como um programa de pesquisa boa parte do trabalho de Freud. Ele tem um paper bem conhecido, que chama ‘Sonho, memória e o reencontro de Freud com o cérebro’, que mostra que hoje os neurocientistas estão encontrando as bases materiais, ou seja, os neurônios, as sinapses, enfim, as bases materiais de vários fenômenos observados por Freud. Ele fala isso em função do Freud, que é o que ele já tem mais trabalhado, mas também se aplica para outros psicanalistas. Então, eu só estou dizendo isso para desconstruir qualquer possibilidade de hierarquia entre esses campos. Ou seja, a neurociência informa a psicanálise, não sei até que ponto, mas a psicanálise também informa a neurociência. Eu sou aluno de história da ciência e é muito legal esse tipo de pesquisa, porque a psicanálise é uma área do conhecimento, um campo do conhecimento muito emblemático para a ciência. A ciência, seja principalmente as ciências mais duras, ciência com C maiúsculo, sempre teve historicamente e ainda tem, na atualidade, muita dificuldade de dialogar com as ciências mais moles, vamos dizer assim, ou com os campos do pensamento, para não ter que chamar de ciência, como a psicanálise, que é emblemática nesse sentido, pois foi muito combatida por físicos na sua origem, e a própria biologia. Eu estava até pensando, isso é assunto da última mesa, mas hoje os históricos da complexidade vêem a biologia, olhando retrospectivamente, como um reduto de resistência ao ímpeto reducionista. Nunca se conseguiu matematizar de forma muito exata, enfim, as abordagens reducionistas foram várias, se pensamos todo o século XIX e parte do XX, principalmente o XIX, o paradigma era mecânico e por muito tentaram-se abordagens mecânicas da biologia, do corpo visto como uma máquina mecânica, um mecanismo. A biologia foi esse campo de resistência da complexidade, nunca conseguiu ser reduzida totalmente. E, bom, pensando isso de uma forma mais ampla, mas eu quero ouvir a Tania.
Tania Rivera: Bom, Pedro já respondeu em parte. Eu acho que é muito interessante, não me surpreende em absoluto que o John não se interesse por psicanálise. O que me surpreende é que pessoas como o Sidarta se interessem. E isso que eu acho interessante mesmo discutir. Eu não vou ter tempo para desenvolver em detalhes o que eu penso a respeito, vou só assinalar duas ou três coisas. Eu acho que esse interesse por pesquisadores que vem da neurociência em psicanálise, ele marca uma mudança de paradigma, uma mudança, na verdade, da reflexão epistemológica nesse campo de interseção entre a psicanálise e a neurociência. Até recentemente, ou se acreditava em um substrato anatômico funcional orgânico, de determinados funcionamentos mais variados possíveis, de determinados fenômenos psíquicos, ou se acreditava em uma teoria como a psicanálise. De alguma maneira, esses pesquisadores neurocientistas que estão trabalhando com psicanálise ultrapassam isso e buscam um outro tipo de diálogo entre as duas. Quando Sidarta diz que toma Freud como um modelo, um programa, exatamente, eu acho que é subestimar Freud. Porque a questão justamente é essa. É que, como John disse, parece a esses cientistas que os psicanalistas não fazem pesquisa. Isso até me surpreende vindo de você, porque você falou no início da sua fala, agora há pouco, em uma criatividade que faz falta nesse momento. Veja só, os psicanalistas fazem pesquisa todo dia. Só que eles não acreditam no seu modelo epistemológico metodológico. Para mim, alguém movimentar os olhos porque foi treinado para tal, de uma maneira que é quase hipnótica, não me parece dizer nada sobre o sonho dele. O sonho é um fenômeno de linguagem. E qualquer pesquisa a respeito do sonho não poderá economizar, poupar o ser como falante. Portanto, você tem pelo menos cento e dez anos, cento e vinte, se você partir do projeto de Freud, de um texto que você me disse que considera importante de Freud, que é de 1895. Você tem quase cento e vinte anos de pesquisa clínica intensa, que te impede de dizer que os psicanalistas não pesquisam. Eu acho que é necessário que os neurocientistas, como você, abram o seu campo epistemológico para outras formas de pesquisa.
John Araujo: Posso só fazer um comentário?
Pedro Urano: Pode, mas eu só quero também lembrar que ninguém é obrigado a se interessar por todos os campos, naturalmente, e a gente não tem a menor ambição de que as pessoas concordem aqui.
John Araujo: Porque nós somos aquilo da nossa história, né? É claro que o meu relato, o que eu conheço dos psicanalistas é da escola de pós-graduação que eu fiz, que foi a Universidade de São Paulo, no qual, na pós-graduação, infelizmente era isso que acontecia, nós éramos proibidos de fazer as disciplinas, eu queria estudar, e era proibido. É claro, isso não significa que isso é a realidade da psicanálise no Brasil e no mundo. E é por isso que eu digo, claramente, eu não conheço a psicanálise, tenho algumas restrições até por desconhecer. Agora, o que eu tenho visto é que as duas coisas, os dois campos, eles se embatem de uma forma que dificulta a construção real do conhecimento.
Pedro Urano: Eu acho que a gente está vivendo um momento também, eu não sei precisar, enfim, eu sou o cineasta da história, mas de alguma forma eu vejo que a psicanálise e a neurociência mais recentemente passaram a disputar território.
Tania Rivera: Não é verdade. A psicanálise pode ou não se interessar pela neurociência, ela existe há muito tempo sem os neurocientistas. Não há disputa nenhuma. Veja só, os neurocientistas estão lá nos seus laboratórios, estão publicando. Os psicanalistas estão na vida, estão agindo na vida das pessoas, entendeu a diferença? Além de pesquisar fazendo isso.
John Araújo: Nesse aspecto, ela tem razão porque a gente tem que tomar muito cuidado para que a neurociência não… Ela tem tomado um rumo, e a minha preocupação é essa. Eu não sou um neurocientista de formação clássica. Eu sou um fisiologista clássico…
Pedro Urano: Só para entender também, fazer breves perguntas. A neurociência é um campo, não é exatamente uma disciplina. Existem pessoas de diferentes formações que são consideradas neurocientistas, não é isso?
John Araujo: Claro, o problema é muitos dos que fazem neurociência não estudam o comportamento, não estudam o corpo, só estudam um órgão que é o cérebro. Eu digo que o seguinte, começando em Freud, a gente começou a estudar medicamente, ou seja, era neurofisiologia, era a medicina que dominava o estudo do sistema nervoso. Era o olhar médico. Depois veio a etologia, e aí era só o ser humano, depois tirou o ser humano e botou a biologia, a evolução, algo a mais. Ou seja, eu tenho que olhar o ser humano, mas eu tenho que olhar os seres vivos. O problema da neurociência, a minha preocupação maior é essa, é que ela retira o ser humano, retira a biologia e põe só o cérebro. Esse é um risco que a neurociência corre. Você só olhar o cérebro é muito ruim. Você fica com um problema. Cadê o movimento? Cadê o resto? Cadê o social? Ai você vai ver linguagem, outras coisas mais.
Pedro Urano: São campos contemporâneos? Eu tenho impressão que sim. Existe uma data de fundação da neurociência?
John Araujo: Da neurociência? A neurociência pode-se dizer, taxar a data dela nos anos 90, quando se define a década de 1990 como a década do cérebro. Não é a década do comportamento, é a década do cérebro. Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Eles definem isso de uma forma centrada e todo o financiamento é direcionado para estudar o cérebro. Não foi a década de estudar o comportamento ou os fenômenos comportamentais. Por quê? Porque é daí que vem o crescimento da neurociência, o fortalecimento.
Tania Rivera: E dos laboratórios farmacêuticos vendendo suas substâncias psicoativas.
John Araujo: Claro. Se você olhar todos os livros, da década de 1980, não existia livro em neurociência. Existia neurofisiologia, estudo do comportamento, psicobiologia, eram esses termos que se usava. Hoje, o termo neurociência ficou na moda. E aí, o problema é esse, é que gerou muita gente que faz pesquisa e olha só o cérebro.
Marina Fraga: Eu acho que a Carbono surge muito da vontade de ver essas diferentes formas de pesquisa atuando. Eu queria aproveitar para perguntar, tanto para a Tania quanto para o Alejandro, como se dá na prática o processo de pesquisa de vocês. O Alejandro está na companhia há 20 anos. Com certeza vocês desenvolveram uma série de técnicas e métodos para essa pesquisa compartilhada, coletiva. Como ela acontece? E a partir, também da psicanálise, como é essa pesquisa no consultório e na universidade de arte. Como é essa ponte entre os dois? Acho que seria interessante ver essas diferentes perspectivas diante do conhecimento, pois não tenho dúvida que todos estão produzindo conhecimento.
Alejandro Ahmed: Bom, a gente começou como companhia em 1993, e acho que se estabeleceu como companhia de pesquisa mesmo a partir de 1997, 1998. Foi quando a gente começou a perceber também aquilo que estava fazendo, para aonde estava indo, e aonde você pode ir também. Então, é uma necessidade de mudança, por questões que você se coloca em função daquilo que você está fazendo no seu campo de atuação. E o que eu chamo as nossas obras, na verdade, são pontos de estabilidade, de acesso aparente, como se fossem publicações sobre uma pesquisa constante. Então, a gente está pesquisando diariamente. A gente tem algumas condutas diárias. A gente trabalha de segunda a sexta, e sempre tem uma uma pesquisa também de como fazer isso, tem o que a gente pode chamar de treinamento antes e o ensaio depois e uma aplicação, ou um tempo inteiro de aplicação dessas idéias. Porque quando você está trabalhando com corpo, você não pode chegar lá e fazer qualquer coisa. Você precisa preparar, e essa preparação – que a gente está pensando agora como pesquisa em que criação, formação e treinamento são uma coisa só – ela devem se organizar de uma maneira que ela possam fornecer essa possibilidade. E fora o estúdio, a gente tem alguns parceiros de áreas afins ou áreas correlatas, que a cada produção ou de forma constante, trabalham com a gente. A direção no início era formada por dois artistas plásticos, com formação em artes visuais na universidade. A Hedra, que está até hoje, que é formada em música e em arquitetura. Então, no fundo a gente sempre teve uma influência da interdisciplinaridade ali. E na verdade, um dos modos da gente pensar corpo e dança, é uma dança em função do corpo. Então, se essa dança é em função do corpo, e se o corpo é estudado como algo no mundo, que revela todas essas condições, qualquer informação que nos seja necessária para ampliar essa ideia de dança através de estar em função do corpo, como a questão do pulso, ou seja, a psicanálise ou a neurociência, a gente vai de alguma forma acessar.
Por exemplo, o António Damásio, quando ele publicou o “Erro de Descartes” e depois “O Mistério da Consciência”, na dança, de alguma forma, isso se torna bastante relevante quando você coloca a emoção e a razão como algo necessário para você efetivar um controle do seu corpo e de quem e como você é. E isso às vezes, para a gente, por exemplo, eu não sou neurocientista e também não sou psicanalista, então quando a gente pega uma informação dessas, num livro que também é publicado para “leigos”, mas que de alguma forma existem discussões, você começa a especular. E nessas especulações nascem coisas interessantes. Que às vezes, você pode chegar a alguns nomes que não tem nada a ver com as coisas ou que está falando coisas que já foram ditas, aí você tem que ir atrás de informação, aí você chama pessoas que, de alguma forma, tenham essa informação. A gente fez isso no Skinnerbox com a questão da automação, trabalhando com o pessoal da engenharia de produção da UFSCAR, mas não deu muito certo. A gente acabou tendo a informação mais precisa com a galera do aeromodelismo. Então, a pesquisa te leva para campos que não têm nada a ver. A gente às vezes aprendeu mais com adestrador da Nina, do que na ocasião em que a gente deu duas bolsas de mestrado para trabalhar em cima da idéia dos robôs e não rendeu tanto aquilo. No fundo, também a gente não deu sorte. Acabou que quem pegou a bolsa lá era meio uma matéria para cumprir, não tinha um trânsito com arte interessado. Porque também não é todo mundo que vai aceitar isso numa boa. Então, quando eu cheguei, na primeira vez que eu encontrei com eles, na Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, eu cheguei todo empolgado falando de Damásio, das relações e ‘não sei o que’, cérebro e máquina e eles estavam muito desanimados. Então depende muito também de quem está lá. Como pesquisa compartilhada, o que é necessário para integrar esse elenco agora é essa disponibilidade de conhecer e de compartilhar seu conhecimento e de se desafiar a buscar novos lugares, não pela novidade, não para você emplacar uma coisa nova ou vender uma cor diferente, mas para você resolver as questões que de alguma forma, a cada produção, são levantadas. Não tem como não levantar. A cada hipótese que você levanta, já levanta mais dez. Então, você sempre vai ter – se continuar em movimento – questões para levarem você adiante. A não ser que você se transforme numa companhia de repertório, que vai aplicar uma fórmula pronta, que todo mundo deseja, que aí é igual pizza, né? Quando eu vou na pizzaria e peço uma pizza de aliche, tem que ter aliche. Se eu peço aliche e vem banana, eu vou reclamar com o cara. Então, às vezes, existe essa confusão também, enquanto produção de arte contemporânea numa companhia de dança e o mercado de veiculação dessa informação. E a formação de público em relação a isso. Quando o cara vai acessar uma pesquisa científica, ele vai acessar uma pesquisa científica. Mas, geralmente quando se vai acessar a relação com arte, em grande parte, principalmente vinculado à dança ou teatro, se procura muito entretenimento. E ai, essa relação entre o entreter e produção de conhecimento é uma questão bastante difícil, porque também virou moda dizer que a gente faz pesquisa. Artista fazendo pesquisa. Teve uma época que qualquer edital, você colocava “faço pesquisa de não sei o que”, e o cara começou faz três meses. É muito assimétrico na realidade, porque não tem as mesmas medidas que a academia.
Tania Rivera: Eu vou tentar responder de maneira minimalista. É uma questão interessante para mim também. Eu acho que o que eu pesquiso é o acontecimento humano por excelência. Eu acho que ele não se dá, no indivíduo, nem fora dele. Justamente essa dicotomia, que funda a psicologia, que a psicanálise vem desorganizar. Eu acho que o que eu estou chamando de acontecimento humano, é algo que se dá entre nós, no mundo. Isso é, na minha opinião, no meu ponto de vista, o objeto da psicanálise, se a gente puder falar assim. De pesquisa e intervenção. Freud já dizia a respeito da sua própria clínica que cada caso clínico, cada pessoa que ele atendia, o fazia, o obrigava a rever toda sua teoria. Isso é algo fundamental para a psicanálise, que é uma coisa muito louca, na verdade. Porque não existe técnica psicanalítica, propriamente dizendo. Não existe uma técnica que você aplique como tal, de maneira mais ou menos protocolar, padronizada em todos os casos. É uma atividade de reinvenção constante, da teoria na linguagem, de um modo que talvez, se aproxime bastante da poesia. Mas não no sentido de qualquer tipo de aplicação arte-terapia, ou procedimentos literários com fins terapêuticos. Se aproxima de algo muito mais fundamental, que é vamos dizer assim, o motor escondido da linguagem, que de fato está em obra entre nós. E para mim, eu sou psicanalista há muitos anos, tenho uma atividade clínica, já trabalhei em instituições e me interessei muito pela loucura durante um tempo. Trabalhei em instituições psiquiátricas e etc. Mas, para mim esse acontecimento humano não está no indivíduo em si, mas num entre. O campo cultural, que nos ensina sobre ele, que nos mostra como ele se dá, é sobretudo a arte. Então, não se trata para mim de aplicar a psicanálise à arte, nem de meramente ecoar uma na outra de modo a fazer um discurso ensaístico-crítico. Mas, de tentar a cada questão da qual eu me aproximo, por exemplo, aquela questão do movimento, incitada por essa mesa de hoje, buscar o que as questões implicadas no movimento, na dança, no ritmo, na queda, podem nos ensinar sobre esse acontecimento humano, que é uma transmissão. É algo que se transmite entre nós. Psicanálise traz essa idéia fundamental: deixa o cérebro embaixo da cama, enquanto você dorme, o cérebro está lá para você poder sonhar. Está bom, debaixo do travesseiro, senão vai ficar muito empoeirado. Mas, a idéia é de que eu não estou no meu cérebro. Eu não estou no meu cérebro. Perdão, mas eu não estou. Eu estou descentrada em relação a mim mesma. A minha relação com meu corpo e com minha anatomia, e a minha biologia, é das mais problemáticas. A idéia de pulsão que eu tentei desenvolver muito rapidamente aqui, vem justamente incidir sobre isso. Eu estou muitas vezes, fora de mim, na cultura. E é isso que se trata de reativar e explorar a cada momento na minha investigação.
Pedro Urano: Só um breve comentário: eu acho muito bonita essa apresentação da psicanálise, que você inclusive associa a poesia. E é bem emblemático, porque acho que não é à toa que você lança mão da analogia com a poesia, porque se trata exatamente de campos irredutíveis, que é impossível pensá-los a partir da premissa reducionista, que acha que as partes formam um todo. Temos uma pergunta ali…
Público: Alejandro, eu acompanho o teu trabalho do Cena 11 já desde 2001, mais ou menos, desde os primeiros work in progress do Violência. Naturalmente, eu acabo tendo algumas sensações a respeito do trabalho, que eu espero que você não sinta como reducionistas, tá? A gente como pesquisador, morre de medo de incorrer na redução, mas a forma acadêmica leva muito para isso e para esse temor. Um dos aspectos que eu sempre percebi no resultado multidisciplinar do trabalho de vocês, é o aspecto do diálogo com o público. Houve vários work in progress dos trabalhos do Cena 11 e do ‘Skinnerbox’, o ‘Pequenas Frestas’ e eu queria te pedir para comentar um pouco sobre isso. Porque a tua fala deixa muito clara para a gente, das relações de espelhamento, e da intenção que vocês tem de causar uma mudança, uma alteração no corpo de quem experiência o trabalho como público. Mas, a gente que acompanha o trabalho, sabe que não é esse o único encontro, não é no momento da publicação, na verdade, a multidisciplinaridade é anterior, não só com os colaboradores das pesquisas de engenharia, mas também de público. Vocês tiveram essa construção com o público. Então, queria te pedir para falar um pouco sobre isso.
Alejandro Ahmed: Então, o primeiro desafio é pensar que essa idéia de dança que você dança quando você vê a dança e quando você dança também. Quem está dançando não são só os bailarinos, o público também está dançando. Então, nessa responsabilidade de ter uma expansão, uma extensão da nossa dança com o público, também se tem uma responsabilidade de implicar num compartilhamento de necessidades técnicas com o público. Em alguns trabalhos isso se fez muito mais necessário e vital do que em outros. No Skinnerbox, a gente lançou o projeto SKR, uma das apresentações tinha um formulário que, que a gente criou a partir da estreia do Rio. Porque na ocasião deu uma série de discussões: ‘Não, isso é um espetáculo’. E a gente falava: ‘Não é um espetáculo’. Se a gente partir do pressuposto que design é a relação entre formato e função, a função daquilo não era de espetáculo. Espetáculo é uma palavra horrível, mas o formato era de espetáculo. Quando o formato e a função não estão ligados à mesma coisa, o design é outro. Então, ele não tem um design de espetáculo. Quando a gente faz uma obra lá, a obra está lá e pronto. Ou seja, ela não está sendo testada em nenhum aspecto antes. No caso do projeto SKR, que tinha que responder sobre a relação homem/máquina, sujeito/objeto, controle/comunicação, a gente precisava levantar as questões, fazer uma enquete do nosso próprio público e levar essas informações para ver o que a gente poderia fazer depois com isso. Já no trabalho do SIM, que é esse que a gente trabalhava com platéia, a gente não poderia fazer o trabalho sem testar com platéia antes. É impossível, porque a gente criou uma coreografia que reage a um público, e o público reage a uma coreografia. Isso não pode ser determinista. Então, a gente teve que fazer alguns testes, que a gente chamou de ‘platéia-teste’, aonde a gente efetivava algumas ações e ia anotando como qualquer laboratório, qual é o padrão e aonde a gente chega e como a gente reage também. Como reage emocionalmente, por exemplo: nos primeiros testes do SIM, em São Paulo, teve uma das platéias que foi extremamente agressiva com os bailarinos. A ponto do SESC colocar os seguranças ali de plantão, pensando que podia ter algum embate mais sério. Isso em São Paulo, em 2009, quando a gente fez uns testes desses. Porque eles faziam uma fila, por exemplo, de mãos dadas e iam trabalhando . E aí se montou grupos contra, virou uma manifestação, uma mini manifestação, aonde não existia nenhum lugar. Uns poderiam ser a polícia, os outros manifestantes. Virou uma metáfora. E a gente teve que se preparar depois emocionalmente para isso, para ver como que se reage a isso, que tipo de solução se tira, aonde pode-se quebrar. E nesse caso, o público é uma extensão também do nosso conhecer. E o que dificulta é, por exemplo, no estado de Santa Catarina, aonde tem uma série de festivais de dança, daqueles festivais competitivos como em Joinville e vários outros, a idéia de dança é muito outra dessa que a gente pratica. Não é uma dança de pesquisa. É uma dança de competição, uma dança que é seccionada em modalidades. E quando a gente se apresenta lá, depois de muito tempo de não ter dançado, é muito difícil. Por exemplo, o público está muito longe dessa relação. Então, a primeira coisa que ele faz é descartar: ‘Isso não é dança’. Então, para eles o que a gente faz não é dança ainda, ou não é mais, já foi um dia. E a relação com o público é a extensão do nosso conhecimento. Então, a gente também tem a responsabilidade de levar esse conhecimento e de esclarecer o que está sendo feito de alguma maneira, mas também não com o intuito de educá-lo para nos ver, mas com o intuito de saber que eles também são a extensão do que a gente faz. Eles somos nós. Uma hora eu estou ali, eu sou público de outras coisas também. Então, um ritual sem público não existe. É arte da presença e não só da presença, da minha presença enquanto ator, mas da presença de dois corpos que de alguma forma, estão dispostos a dialogar sobre determinada questão. Então, é sempre uma extensão importantíssima.
Público: Eu queria fazer uma provocação, eu queria pedir, na verdade para o John, fazer uma relação que eu não sei se já apareceu aí, mas da entropia com a ciência biológica, da própria idéia da cronobiologia, porque o que me passou pela cabeça, que é bem direto a gente relacionar a entropia no mundo físico, da física, da termodinâmica, um líquido esfria e tal. Mas quando você pensa uma idéia mais orgânica, um terreno baldio que é tomado pelo mato, na verdade, é o contrário da entropia, porque esse mato é altamente organizado e um sistema super complexo; um pão que mofa, que cria fungo parece que ele está perdendo organização, mas ele está com uma cultura super rica de organização. Então, como é que você faria essa ligação da entropia com uma cronobiologia mesmo? Que tempo é esse que aparece aí?
John Araujo: Eu gostei da sua provocação, porque é uma provocação inclusive que eu ia fazer aos dois colegas aqui. Porque quando ele coloca essa questão da entropia, a entropia como identidade. Porque, realmente, isso é um problema. A ciência biológica, na verdade não só a ciência biológica, a física também, ela não gosta da termodinâmica. A flecha do tempo está só na termodinâmica. A física quântica não tem flecha do tempo. Relatividade não tem flecha do tempo. Flecha do tempo só existe na termodinâmica. Também tem um outro lugar que a flecha do tempo não funciona: no capitalismo, porque é sempre o maior tomando do menor. E isso não existe na termodinâmica. É sempre maior energia para o de menor energia. Então, a ‘crono’ ela trabalha muito com isso: na hora que ela põe a questão da dimensão temporal, o que a gente chama a história do sujeito, a ‘ontogênese’, é fundamental. E as transformações que ocorrem também seguem a entropia, não tem jeito. A morte não tem como sair da entropia. Quando a gente fala que o Alejandro diz a entropia como identidade, ou a identidade como entropia, é o corpo: a entropia como corpo. O corpo que tem a ver com a entropia. A identidade nossa, que eu acho que é o que a gente pode superar. Porque eu acabei de fazer 50 anos de idade. Tradicionalmente, a gente diz, a partir dos 50 anos, agora, a gente vira o outro lado do guarda-chuva. Porque a entropia chegou ao máximo. Chegou para o meu corpo, mas para a minha criatividade não. Para a minha cidadania não. A minha capacidade, várias funções mentais, que eu acho que, por exemplo, neste caso a psicanálise tem muito a demonstrar historicamente. Eu disse assim, ‘a entropia não afeta’, porque ela é algo, é uma meta, a função além das disfunções neuronais minhas. Não tem jeito. Há muito tempo que a entropia está fazendo que eu perca o número de neurônios. Eu não tenho como inibir isso. Mas isso não significa que eu estou perdendo a minha cidadania. Não. Ou a minha criatividade. Então, eu acho que a cronobiologia, ela joga muito isso. Principalmente para a gente pensar a terceira idade, que é uma coisa nova para a gente. Porque antes não existia, a gente não chegava até agora. E a tendência é aumentar mais ainda. E eu acho que a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma, que é uma metáfora que existe na nossa sociedade, que a partir dos 50 a gente tem um declínio. Tem declínio em alguns aspectos, com certeza. Mas naquilo que nos faz humanos, eu acho que esse declínio, ele não ocorre. Ele pode crescer, que supera a entropia.
Alejandro Ahmed: E também, para mim é interessante pensar entropia como uma transformação constante, nesse sentido. Porque a energia, quando ela se dissipa, ela não desaparece. Então, quando você perde calor, você perde calor para alguma coisa. Você perde calor porque variou uma temperatura. Então, esse calor está em algum lugar, de outra forma. Então, o que acontece é que, o desafio até utópico ou metafórico, ou sei lá o que a gente está tentando fazer formalmente, é tentar ver identidade como essa dissipação de energia mutável necessária a uma adaptação constante no tempo, com o tempo, no ambiente. Que aí a gente biologicamente fica mais próximo. Porque justamente, na física eu posso voltar no tempo, só preciso a máquina, que ainda não chegou. Mas, nesse sentido a idéia de reversibilidade é importante para mim.
***
ALEJANDRO AHMED é coreógrafo residente, diretor artístico e bailarino do Grupo Cena 11 Cia. de Dança. Seu trabalho como coreógrafo surgiu de forma autodidata, e junto ao Cena 11 promoveu o desenvolvimento da técnica “percepção física”, que objetiva produzir uma dança em função do corpo. Seu olhar sempre esteve voltado para os limites do corpo e as possibilidades que este propõe para a transformação do corpo do outro, sendo este “outro” um espectador e/ou um cúmplice da ação a que o corpo é submetido. Suas investigações atuais estão situadas em novas definições para o conceito de coreografia. As suas novas proposições teórico-práticas estabelecem a tríade correlacional EMERGÊNCIA-COERÊNCIA-RITUAL como guia de suas ações. www.cena11.com.br
TANIA RIVERA é psicanalista, doutora em Psicologia pela Université Catholique de Louvain, com Pós-Doutorado em Artes Visuais pela EBA – UFRJ (2006). Foi professora da Universidade de Brasília de 1998 a 2010 e atualmente é professora da Universidade Federal Fluminense. É pesquisadora bolsista do CNPq e autora de diversos artigos e livros, como “Arte e psicanálise” ( Zahar), “O Avesso do Imaginário” (Cosac Naify), e o recentemente lançado “Hélio Oiticia e a Arquitetura do Sujeito” (Editora da UFF). Leia o artigo de Tania Rivera na Carbono #03 – Sono, Sonho e Memória.
JOHN ARAÚJO é mestre e doutor pelo Instituto de Psicologia da USP (Área de Concentração Neurociências e Comportamento). No mestrado, estudou Cronobiologia e sistematizou o conceito de Intermodulação de Frequências, e, no doutorado estudou o papel do metabolismo no Sistema de Sincronização Circadiana. Em 2002, fez estágio de pós-doutorado no Grupo de Cronobiologia da Universidade de Barcelona, com quem mantém forte colaboração até hoje. É professor no Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico desde 1997.
A conversa acima está também disponível em vídeo no website: www.encontroscarbônicos.com
Edição e revisão: Marina Fraga
Transcrição: Ana Carolina Mandolini
Os Encontros Carbônicos, a partir do qual publicamos nesta edição uma série de conversas entre artistas e cientistas, foi realizado com patrocínio da Funarte, através do Programa Rede Nacional de Artes Visuais 10ª Edição, e contou com o apoio da Galeria Largo das Artes.
Todos os direitos reservados.